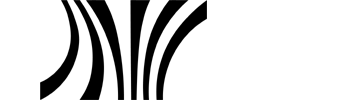Padê Para Depois da Pandemia por Luiz Antonio Simas


ILUSTRAÇÃO ROBINHO SANTANA
A prática das ruas, nas inventividades cotidianas e na sapiência que a escassez estimula, gera maneiras de estar no mundo que atropelam o desencanto da cidade pensada como um empreendimento de gestão para usufruto de poucos e confinamento de tantos. Nos meandros do legal e do ilegal, os corpos juramentados nos secretos da pedrinha miudinha de Aruanda transgrediram, insistindo na vida, a escuridão dos tumbeiros, a caça aos tamoios, a ferida aberta pelas chibatas, os códigos criminais, os devaneios da cidade cosmopolita, as covas rasas e os camburões.
O padê – a farofa de Exu, temperada no dendê – arriado na encruzilhada evoca o axé da civilização peculiar e sofisticada de Pixinguinha, Paulo da Portela, Cunhambebe, Cartola, Noel Rosa, Bide, Ismael Silva, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Tia Ciata, Meia Noite, Madame Satã, Lima Barreto, Machado de Assis e Paula Brito. A gargalhada que assombra a Noite Grande chama Manduca da Praia, Silas de Oliveira, Geraldo Filme, Dona Fia, Fio Maravilha, Leônidas da Silva, Di Cavalcanti, os judeus da Praça Onze, a pombagira cigana, a escrava Anastácia, o vendedor de mate, o apontador do bicho, a professora, o aluno, o seresteiro, o chorão, o sambista, a mãe do samba, a filha do funk e a dançarina que baila no silêncio sincopado entre uma bala e outra.
O que fazer, entretanto, quando a peste passeia nas entranhas da cidade desencantada? E o que é a peste, no fim das contas? Deliro a febre de um futuro morto pela ausência dos nossos fantasmas e conto uma visagem, pesadelo, premonição ou sonho. E foi isso que vi enquanto dormia.
O futuro chegou e o Maracanã morreu. O último botequim fechou, não há cinemas ou livrarias de rua, a butique de carnes renegou o açougue, o ateliê de pães esconjurou a padaria, o carro automatizou-se, os corpos das sobras viventes, encaixotados em vagões, caminham para mais um dia de celebração do fim. Com pressa, enredados no tempo e nos grilhões virtuais, contaminados seguimos.
Das entranhas da distopia, porém, surgem no meu delírio
os remanescentes da civilização que aparentemente sucumbiu. Eles continuam realizando nas catacumbas, entocados como bichos, os estranhos rituais dos seus avós. Na gira do mundo, os velhos incorporavam o caboclo fulni-ô Mané Garrincha para driblar a implacável marcação dos homens de bem. Na encolha, continuavam a bater tambores, afinar os cavacos, pontear nas violas, descer a mão nos repiques e arrepiar nos foles da sanfona. Cruzavam o chão, terreirizando a aldeia, para chamar no berimbau a volta ao mundo nas rodas de pernada e tiririca. Iê, viva meu Deus!
A descida às catacumbas aconteceu depois que as ruas foram tomadas pela peste, saudada pelos gritos de aleluia! e rajadas de metralhadoras. Enquanto a bandeira tremulou o amor à pátria, o desfile da última escola de samba terminou com as baianas apedrejadas em virtude de seus panos da costa, ojás, saias rendadas e colares de miçangas coloridas.
O que fazer diante da peste? Para os que foram para as catacumbas, só restou reinventar o furdunço da vida no cafofo do desmundo. E foi aí que os entocados começaram a contar às crianças, da maneira como podiam, na moita, as histórias que os tambores ensinaram. E aos poucos os hereges, no primeiro sinal de arrefecimento da doença, foram saindo das catacumbas para botar seus blocos nas ruas; sem a devida autorização dos homens do poder, é claro.
No meio de tudo isso, pairando soberano como monumento ao horror, ergueu-se um prédio de oitenta andares, com roletas de identificação para que os mortos engravatados, com ternos bem cortados, pudessem ter acesso aos seus túmulos. No canto da cena, porém, com a discreta miudeza das coisas imensas, a farofa se aconchegava dentro de um alguidar de barro na encruza mais próxima. Alguém arriou outro padê. Acordei jurando escutar uma gargalhada, vinda sabe-se lá de onde, que parecia lançar a flecha da resposta festeira de encantação do mundo depois do fim: o jogo continua.