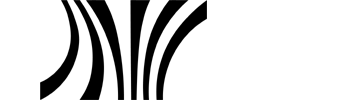LUCIENNE GUEDES FAHRER (São Paulo, 1968)
Dramaturga e atriz. Doutora pela USP e atriz fundadora do Teatro da Vertigem, é autora de várias peças, entre elas As siamesas – talvez eu desmaie no front (2019) e Cidade fim – Cidade coro – Cidadereverso, escrita em colaboração com José Fernando Azevedo e o Teatro de Narradores, espetáculo que representou o Brasil na Feira de Frankfurt em 2013. Foi professora e coordenadora da ELT, e atualmente é professora do Instituto de Artes da UNICAMP.
CONSUELO DE CASTRO (Araguari, 1946 – São Paulo, 2016)
Consuelo foi uma das mais premiadas e destacadas dramaturgas da cena brasileira, notadamente irmã da geração de autoras sessentistas. Ao seu primeiro texto de sucesso, “Prova de Fogo” seguiram-se peças como “À Flor da Pele”, a primeira a ser encenada. A narrativa conta o embate ideológico e amoroso entre um intelectual de esquerda e uma estudante de teatro. Por ela, Consuelo recebeu o Prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCT). Em 1975, com a peça “Caminho de Volta”, ela novamente ganhou o prêmio da APCT e também levou o Molière, um dos principais do teatro. Sua última peça, “Only You”, é um olhar memorial sobre os temas que marcaram sua dramaturgia: as questões femininas, as relações amorosas e a militância política.
São Paulo, 20 de junho de 2020
Caríssima Consuelo de Castro,
“É chegado um tempo em que
o corpo da mulher irá nascer
das palavras das mulheres.”
Elizabeth Ravoux-Rallo, 1984
Coloco sua foto diante de mim, como se ela olhasse para mim, na esperança de que você mesma inspire a carta que lhe escrevo agora. Eu sei que você não vai ler. É preciso dizer, eu sei que você não vai ler. Então, por que escrevo? É preciso pensar nisso, expor esse problema. É preciso explicitar isso: qual o motivo dessa história de escrever uma carta para quem não vai ler. Esse é um jogo. Não é um simulacro, para mim não pode ser. Fingir não é boa coisa; imaginar ainda é. É uma carta que nasce pública, muita gente vai ler, menos você. Então é um jogo público, esse que jogamos. Ponho a sua foto diante de mim, e vou olhar para ela de quando em quando, sempre que meus dedos pararem de escrever.
Pararam. E então olhei para você.
Não é triste, seu sorriso. Seu corte de cabelo poderia ter sido feito hoje mesmo. Seus colares também, poderiam estar no pescoço de uma moça bonita de hoje. Seus olhos miram o infinito, um infinito largo, que deve ser do tamanho de que foram os seus sonhos. Quais foram seus sonhos, Consuelo? Quais deles conseguiu ver, realizar, quantos deles foram deixados para trás? Quantos deles foram esmagados pelo tempo que lhe tocou viver?
Olho de novo, e nesse momento seu sorriso é todo meu. Obrigada. Gosto tanto de imaginar nossos corpos de mulheres assim, sem sutiã, nessa postura de costas soltas, ombros soltos, como você faz nessa foto, que deve ter sido tirada no momento em que eu nascia.
Ali estava você, já na foto da revista, dramaturga, no momento que eu quase quase não existia. Seus olhos miram o oceano do tempo em que eu viria a existir, o solo em que eu viria a ocupar também.
E aqui paro um instante, mas ainda não olho sua foto de novo. Espera: essa carta é sobre mim? Ou é para você? O risco de escrever uma carta para você, mas sobre mim: esse é só o primeiro risco. Mas é um risco fraco. Sei que não é sobre mim, essa coisa aqui, esse jogo público, e preciso dizê-lo. Não é sobre
mim.
Se não é para dizer de mim, nem para que você de fato leia, é o que é isso, então?
Olho pro seu sorriso de 1969. Ele não me responde a essa pergunta. Conheço agora o seu silêncio.
Tomei um susto, porque o seu sorriso da foto parece ter se alargado nessa hora em que eu disse “silêncio”. Será que a foto sorriu pra mim?
Desculpe, é brincadeira.
Ou não é?
Houve um tempo, há uns bons anos atrás, em que as memórias, os sonhos e as reflexões de Jung mudaram minha maneira de ver a vida e a morte, e nunca mais me esqueci. Ele escreve, numa passagem cuja precisão já está um tanto esquecida pra mim, que em seus sonhos recorrentes havia um hindu, alguém que se acercava dele vestindo um turbante, sentado numa pedra, ou algo assim. E Jung pergunta a ele: por que você sempre aparece no meu sonho? E ele responde: estou morto, e onde estou não posso ter acesso à vida, não posso conhecer da vida, então eu me acerco a você, que ainda está vivo, para ver se consigo aproveitar alguma coisa. E eu entendi que a morte não seria ter a consciência de todas as coisas, nem mesmo ver a face de deus; não necessariamente. E entendi que era preciso conhecer a vida daqui mesmo, estando viva. Então eu proponho que você, Consuelo, olhos de infinito e sorriso de quem parece não precisar da minha aprovação e nem da ninguém… proponho que, se quiser, me espreite de onde estiver e quem sabe eu poderei ser útil, quem sabe essa carta poderá ser lida de alguma maneira por você.
Tempos públicos, os de hoje.
Penso agora se preciso apresentar você a este público.
Olho para você, para escutar a resposta. Está bem. E corro o risco de apresentar você daquele jeito, jeito de escritor ruim que não sabe como quebrar a escrita por causa da memória. Um escritor ruim de cartas ruins: “Consuelo, lembra quando em 1969 você escreveu aquela peça, À flor da pele?” Como se você pudesse esquecer. “Naquele momento a tempestade de um governo autoritário e repressor estava caindo, lembra? E quem invocava aquela chuva eram aqueles que queriam destruir as conquistas dos trabalhadores, queriam limpar o terreno de pensamentos de mudança, e esses tiverem o apoio de uma parte significativa da população, das religiões também, e do poder militar”.
Eu estava nascendo. Sei dessas coisas de ouvir falar. E demorei muito para ouvir falar, porque a escola que eu frequentei tinha o Jarbas Passarinho na contracapa do livro de Educação Moral e Cívica. O homem que mandou a consciência às favas na contracapa do meu livro escolar. Demorei para saber de você, também. Foi só na universidade, justo no momento da abertura política, na hora em que aquela tempestade deixava de cair com tanta força. Não faz muito tempo que você foi para este outro lado da foto. Mas você não viu o que acontece agora, junho de 2020. Talvez tenha sentido indícios de uma
história que parece se repetir. Sentiu?
Olho pra sua foto e você parece me dizer que não, não sentiu. Que bom. Porque aqui está a tempestade de novo, e parece que querem, de novo, limpar a gente do mapa, como se fôssemos sujeira que impede… o crescimento da nação. Acho que é isso, somo sujeiras que impedem o crescimento da nação, Consuelo. Eles podem nos varrer, Consuelo. Varrer para debaixo do tapete, tudo de novo, igual. Só que diferente. Nós atrapalhamos o crescimento do país. Nós teríamos que ser otimistas, dizem eles, mas não somos, teríamos que ser leves, mas não somos. Eu disse nós? Disse. Nós.
(Quem escreve essa carta comigo? Quem serão vocês que escrevem essa carta comigo? É preciso fazer alguma coisa. Quem vai fazer alguma coisa? Quem somos nós, afinal?)
Olho pra sua foto e dessa vez vejo você.
Nessa hora – e vou tirar os olhos de você um pouco – eu tenho o impulso de denunciar, de xingar, de expor as fragilidades daqueles que não pensam como eu, de expor a falta de ética e dar um basta, deixar nítida a minha posição pública, sobre as mulheres, o abuso, o machismo, a misoginia, o fascismo, o racismo…
Mas não vou usar essa carta a você para isso. Agora sim eu vou olhar para o seu rosto. O que me diz disso tudo? O que eu posso fazer por você? O que posso aprender por você, que escrevia teatro em 1969 e continuou até este século em que estamos? Você estava lá, escrevendo o capítulo de um “nós” que resistia, que criava uma vanguarda cultural, fomentando uma nova cultura, criando espaços novos inclusive em meio a uma repressão e também crise econômica que consumia a vida de todo mundo?
…
Se eu dou risada é porque descobri que posso ser uma escritora ruim também.
…
Se eu gritar agora, quem vai ouvir? O que eu vou gritar? Se eu abrir a janela agora, você me ajuda? Me diz, Consuelo, o que eu posso gritar por nós duas na escuridão dessa madrugada?
O grito ou o suicídio, Consuelo? Por que a saída para nós, mulheres, para as nossas histórias, tem sido o sonho da morte, o voo através da janela, a faca contra a garganta? Por que nossas personagens inventadas para mudar o mundo encontram seu descanso na lâmina, Consuelo? Por que desistimos? Por que nossas personagens desistem? Por que as mulheres da nossa ficção não encontram saída? Por que os enfrentamentos continuam nos derrubando? Por que continuam conseguindo nos silenciar? Por que também a sua personagem, Consuelo, aquela Verônica jovem e com muita vida pela frente, por que a Verônica sucumbe à própria faca na frente daquele que foi seu professor, um homem muito mais velho do que ela e um abusador de merda, Consuelo? Por que enfrentamos a polícia na rua, se for necessário, mas a cena possível se torna a dança da morte dentro de nossas casas? Como seria um fim em que depois do enfrentamento viesse outra coisa? Por que ainda ponderamos que Ofélia pode ter se suicidado? Por que a única suspeita é outra mulher? Por que continuamos ensaiando Hamlet, Consuelo? Somos mesmo incapazes de mudar isso? O que conseguiremos imaginar? A janela está aberta, agora você me diga o que fazer. Qual é o grito?!?
Olho para você, e sua foto me sussurra “que bonita a cena, gostei.” É ironia, não é?
A cena verdadeira é esta: essa carta é uma cena. E não é autobiográfica. Como você, penso também que minha vida não tem graça nenhuma, autobiograficamente falando, nem originalidades. (Embora eu acredite que sua vida foi especial, sim.) Eu não passei por um abuso do tamanho da sua personagem de À flor da pele. Mas sei que isso existe, continua existindo. E eu estou usando essa carta aqui para dar um recado e mandar um abraço para uma mulher jovem que passou por isso: eu escrevo essa carta pra você por causa dela. O espaço se abriu para mim só por que ela foi muito corajosa e expôs toda a coisa do abuso que sofreu de um professor de dramaturgia, como na sua peça, como sua Verônica e o seu Marcelo. E ela está viva, essa mulher jovem. Eu preciso politizar essa cena, esse espaço da carta, Consuelo, me perdoe, tá bom? Essa carta precisa ser perigosa.
É que as suas mulheres não são só suas, nem minhas. A história de qualquer mulher não é só dela. Mulheres são arquivos vivos. São corpos-arquivo, penso, das violências sofridas e praticadas, dos silenciamentos, dos amores, dos sofrimentos, da privação, da solidão, da incompreensão. Nos corpos das mulheres estão a família, o trabalho, os filhos, o desespero por não caber na imagem do corpo que se expõe na televisão, no cinema, nas revistas, naquela rede que é social demais a ponto de definir quem devemos ser, que idade devemos ter, na literatura que nos oprime com seus finais suicidas e assassinatos. Madame Bovary. A Madalena de Graciliano Ramos. A moça do HQ do Quintanilha. A Maria da Graça do Valter Hugo Mãe. Ofélia. A sua Verônica. E tantas outras.
Por favor, não me olhe assim. Ria de mim, de nós, se puder.
A cena era essa. A carta. Pra você.
Esse encontro entre eu e você foi forjado. E eu não conseguiria ser infantil a ponto de ignorar isso ou de esconder a verdadeira cena. Eu escolhi você, Consuelo. Espero que ainda haja tempo de manifestar, ao que pese essa carta, talvez realmente pesada… manifestar toda a minha admiração pelo que você escreveu, pela força com que lutou para me dar um mundo melhor. E deu. Um teatro melhor. E deu.
Aqui, onde eu não poderei jamais substituir você: aceite o meu abraço e o meu amor.
Lucienne