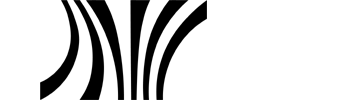Escrever em dança: deslocar o olhar é a atual edição do CCSP Dança em Diálogo que, em 2017, tem como foco a dança programada no Centro Cultural São Paulo, sendo analisada pelos integrantes dos encontros (abril a outubro). Como resultado teremos resenhas autorais, que avaliadas e problematizadas pela curadoria – somente em aspectos técnicos da linguagem e de sua clareza – são aqui difundidas. Ao final do programa, pretende-se ver tecida uma rede de vozes e olhares, cada um deles de responsabilidade de cada autor, mediante uma proposta de análise, debate, escrita e difusão sobre dança, descolonizando-se abordagens mediantes discursos diversos sobre a arte, seus contextos, história e contemporaneidade.
Setembro: 4º Ciclo: CCSP SEMANAS DE DANÇA 2017 | O quê? Como? Para quem?
Resenhas sobre espetáculos do CCSP Semanas de Dança 2017 – setembro de 2017
*As resenhas publicadas são de inteira responsabilidade de seus autores, expressando exclusivamente as suas opiniões.
Cinequanon, da Focus Companhia de Dança (Rio de Janeiro), por Cássia Navas
Começo pelo final: depois do espetáculo uma projeção apresenta-nos lista de títulos de filmes, muitos. Para criação de Cinequanon, da Focus Cia. de Dança, seus intérpretes e Alex Neoral, líder e coreógrafo deste grupo carioca, partiram destas referências cinematográficas.
A lista funciona como um enigma, seus índices a apontar para um rastreamento de informações que não pudemos organizar ao longo da coreografia que acabamos de ver.
Por outro lado, ela talvez aponte para uma escolha: apresentar uma narratividade, que se quer na e por intermédio da dança, para usufruirmos o espetáculo, a interdisciplinariedade- entre coreografia e sétima arte – não sendo condição sine qua non, conjunção latina para dizer “sem a qual não”.
Entretanto, o cinema está até no título da obra através do neologismo “cinequanon”, outrora também um nome dum um site especializado em filmes. O nome da coreografia é uma palavra composta de cine (abreviação de cinema) + qua + non, indicando para uma condição de alguns, que não poderiam, talvez, passar sem cinema, ou seja condição sine qua non para seguir sendo indivíduos-sujeitos de uma cultura/arte (fílmica).
Para além duma dança realizada com precisão, energia e força – sobretudo nos duos e conjuntos- e na qual algumas vezes podemos entrever assinaturas de cineastas (Almodóvar, Kubrick?) – a Focus parece estar a nos dizer algo além, mediante sua escolha de rastros de muitos filmes.
Minha aposta seria aquela que, por detrás de tantas metáforas, metonímias e sinédoques coreográficas- resultados de mediações entre a dança da companhia e sua cultura fílmica- estaria a reflexão: “muitas são as plateias do cinema, poucas são as plateias da dança”.
Em caso de assim o ser: seria uma reflexão que compartilho com os artistas da companhia e de há muito. Uma questão já enunciada por escrito, mas, sobretudo quando, em entrevistas, sou perguntada dos motivos para uma plateia vazia frente a um espetáculo de dança.
Geralmente, alguns apressados comentários a este respeito penalizam certas formas da linguagem por estas poltronas sem gente, alegando-se que frente a espetáculos, digamos, mais herméticos, certas plateias não retornariam para “ver mais dança”.
Sem querer aqui entrar no mérito dos hermetismos da dança atual- alguns deles fundados na mais preciosa função da arte experimental, outros tantos fundados na preguiça superficial de trajetórias copiadas entre muitos-, minha resposta a esta questão sempre foi: “Façamos como a plateia de cinema!”.
Estas “amam o cinema”, ponto final. Se não gostam de um filme, voltam para ver um outro: de outro realizador, elenco, tema, roteiro, método, episteme, país. Retornam às salas de exibição, não desanimam, nem negam seu amor à sétima arte.
Em busca deste tipo de plateias, Alex Neoral e a Cia. Focus estruturam uma carreira de encantamento frente aos públicos de dança, onde eles possam estar. Como, por exemplo junto à Fernanda Abreu, no recente festival “Rock in Rio 2017”, em edição que se abriu às estéticas dos games e youtubers.
A manutenção da potência da dança por entre a babel do showbiz – também representação de uma sociedade- e por entre as malhas da indústria cultural é ponto a ser – sempre- comemorado (e desde há muito tempo).
Sobre os palcos da dança, a busca por mais potentes formas de comunicação para sua arte, os artistas da Focus poderiam mais bem se esmerar na forma de contar as histórias que querem compartilhar. Em Cinequanon, podemos ver de onde vem a dança, mas ficamos a pensar onde mais ela poderia desaguar na fundamental e difícil construção de narrativas – para além da narrativa da dança em si, estruturada pelo corpo em arte.
Um desafio a mais para Neoral e para a Focus. Também desafio para muitos do campo coreográfico. Obrigada por a ele se lançarem.
Cinequanon, da Focus Companhia de Dança (Rio de Janeiro), por Amanda Queirós
Desde As Canções que Você Dançou para Mim (2011), Alex Neoral e a Focus Cia de Dança fazem uma dança popular que nada tem a ver com ritmos de salão ou folclore. Seu objetivo é uma comunicação direta com o público, e é isso que se vê em Cinequanon, inspirado pelo universo do cinema.
Misturar dança com essa linguagem não é exatamente novo. O que Neoral apresenta como seu é um pout-pourri de referências, em especial hollywoodianas. Isso acontece de duas formas: a primeira é do ponto de vista da imagem, exaltando a iconografia de personagens arquetípicos, como gângsteres, detetives, caubóis e mocinhas indefesas. A segunda está no modo de organização da dramaturgia, que busca montar as cenas a partir de uma estrutura cinematográfica.
É nesse segundo campo que o coreógrafo se sai melhor. Com truques de iluminação e uso esperto de vários espaços do teatro para além da caixa preta, ele expande o palco para a plateia. A cada vez que o espectador move a cabeça e o olhar para acompanhar as cenas, está feito um “corte” e editada uma nova tomada.
O melhor exemplo disso está logo após a projeção dos créditos iniciais, quando acompanhamos um homem e uma mulher com as identidades acobertadas por óculos, echarpes, casacos e chapéus. Eles correm de um lado para o outro do teatro em busca de uma caixa misteriosa. O coreógrafo brinca com a ideia de ilusão de realidade criada a partir da montagem e da continuidade do cinema ao colocar vários bailarinos, vestidos de forma igual, para interpretar os mesmos papéis. Eles produzem esse efeito quando saem por uma porta dos fundos e surgem imediatamente pelas coxias do palco, cada entrada acompanhada pelo efeito sonoro de um take.
O sequenciamento e a causalidade também estão presentes na cena seguinte. Sozinha no palco, uma bailarina delineia uma série de movimentos. Ela reinicia então tudo, mas agora com a presença de mais alguém no palco. Percebemos assim que um dos gestos dela tinha relação com esse outro sujeito. A cada reinício da cena, vemos uma justaposição de mais personagens que acabam explicando os caminhos de movimento da garota do início.
O trabalho é declaradamente inspirado em mais de 80 filmes. A tentação inicial, portanto, é desvendar o quebra-cabeça e identificar os elementos que remetem especificamente a cada título. Seria uma proposta divertida, mas igualmente cansativa. Felizmente, a direção consegue se desviar desse caminho e despistar o público em momentos coreograficamente muito bem montados, especialmente nos duos. Fora referências mais óbvias, incrustadas na cultura pop de origem americana, é difícil delinear exatamente de onde vem cada coisa – ponto para a criatividade da companhia.
Há muito com o que brincar nesse universo, e isso fica evidente na originalidade de cada cena, sempre muito diferente da anterior. Ora são exploradas projeções, ora efeitos de iluminação, ora a performatividade dos bailarinos. Esse dinamismo é uma virtude, mas pode também ser visto como o maior pecado de Cinequanon.
A sensação é de que as cenas surgem como curtas-metragens independentes entre si. A falta de uma conexão maior de uma para a outra, para além do elemento vermelho sempre presente, faz com que, perto do fim, a obra, que até então demonstrava coesão, pareça mais dedicada à exploração da forma do que do conteúdo.
Há ali insights interessantes, mas que têm sua distinção diluída quando colocados, em grande número, um atrás do outro. Faria bem um pouco de edição – ou, quem sabe, desdobrar o material em uma trilogia, algo que a indústria do cinema sabe fazer como poucos.
Cinequanon, da Focus Companhia de Dança (Rio de Janeiro), por Jonathas Leite
O projeto Semanas de Dança iniciou mais uma edição com a companhia carioca Focus Cia de Dança, que apresentou seu mais recente espetáculo, Cinequanon dirigido pelo diretor, coreógrafo, bailarino Alex Neoral. Ao lado de Tati Garcias, diretora de produção, ele não mente ao dizer que o espetáculo nada mais é que um jogo de cenas, resultado da fusão entre a dança e o cinema. Marcadas pela criatividade, cada uma delas homenageia a sétima arte, fazendo com que a plateia mergulhe no suspense, humor, romance e drama, obrigando-se ao exercício da imaginação.
Na fila, antes de adentrar na sala do teatro, é comum ouvir cinéfilos se perguntarem “que filme é esse?” enquanto um casal de bailarinos transita cenicamente entre os que ali aguardam a hora de prestigiar o espetáculo.
A princípio, poderíamos achar que o público seria predominantemente de apreciadores ou artistas da dança, porém há um número significativo de apreciadores do cinema. Vale ressaltar, no entanto, que esse não é um espetáculo para adivinhar os filmes que inspiraram a obra. Apesar de isso fazer parte do jogo, é necessário principalmente sentir cada personagem interpretado/dançado por cada bailarino e deixar-se ser atravessado pela expressividade de cada olhar, que em algum momento penetra os que se encontram na sala de teatro. É preciso ouvir e sentir cada respiração, seja ela ofegante ou de alívio, além, é claro, de enxergar a individualidade e pluralidade dos corpos em movimento.
Para refletir sobre o espetáculo e as cenas que se encontram, desencontram e reencontram em mais de 60 minutos de cena, vale a pena adentrar um pouco nos fatores do movimento propostos pelo teórico Rudolf Laban, que desenvolveu uma forma de dança expressionista. Sendo assim, ele propôs uma maneira de escrever a dança relacionando a existência de qualquer movimento com quatro fatores: 1) o espaço – podendo ser direto ou indireto, nos níveis alto, médio e baixo; 2) o peso/força – podendo ser forte ou leve; 3) o tempo – podendo ser acelerado, desacelerado ou desacelerado; 4) o fluxo – podendo ser contido ou contínuo.
Tais fatores de movimento podem facilmente ser visto durante todo o espetáculo Cinequanon. Dessa maneira, se compreende melhor como o coreógrafo e os bailarinos transitam no diálogo entre coreografia e cinematografia.
O espetáculo inicia com ar de suspense e dramaticidade. Quatro bailarinos se utilizam de uma movimentação forte, direta, ora com tempo acelerado, ora desacelerando abruptamente, explorando todos os níveis espaciais através de quedas, contrações e grandes saltos, revelando predominância de fluxo contínuo. A cena faz imaginar um filme no qual mafiosos desconhecem o significado da palavra lealdade. A ganância e a traição tomam conta do palco. Ao som de um instrumental percussivo, os bailarinos se escondem na penumbra de um tecido. O ápice é quando um boneco cai do teto no palco, provocando reação de susto e risos da plateia, um momento que lembra a morte de algum indivíduo jogado de algum edifício a mando do chefe da máfia. É quase impossível não lembrar de O Poderoso Chefão.
Essa cena é uma introdução, seguida por uma projeção com créditos iniciais, algo essencial nos filmes, quando a informação sobre os artistas envolvidos na produção aguça o imaginário do espectador. A ideia é óbvia, criativa e diz muito sobre a proposta do espetáculo.
Logo em seguida, quatro casais com o mesmo figurino cruzam correndo por toda a sala do teatro, entre o palco e os corredores que dão acesso aos assentos. São bailarinos e bailarinas envolvidos pelo suspense, que se utilizam de uma caixa vermelha para aumentar o mistério. O que tem nela, nunca sabemos. A única a ver o conteúdo é uma das bailarinas que, ao abri-la, grita, finalizando a cena.
Duas penteadeiras são postas nas laterais do palco. Enquanto acontece um solo inspirado no ator e humorista Charles Chaplin, considerado um clássico do cinema mudo preto e branco, as bailarinas trocam de figurino. De repente, uma música de suspense inunda a sala de teatro. Mulheres loiras, que lembram a protagonista do filme Psicose, se deslocam para o palco, em desespero, com movimentos de força, tempo acelerado, fluxo contido e gestos diretos, ao mesmo tempo em que sussurram. A movimentação nessa cena lembra a da primeira, no figurino e na dramaticidade dos rostos e corpos, no número de bailarinos no palco e no uso do susto para consolidar o momento.
O romance e a paixão entram em cena num duo, onde bailarina e bailarino se encontram e desencontram algumas vezes ao mesmo tempo em que imagens dos dois, gravadas anteriormente, são projetadas em um tecido à frente do palco, dando ao momento mais vida e um ar de romantismo. A movimentação preza pela simplicidade, porém é dinâmica, de contato entre os corpos. O movimento desacelera, o tempo e o fluxo são contidos. A mulher apaixonada surta e expressa repulsa pelo outro. Há um momento de calmaria também, com tempo para uma rápida reflexão sobre as relações conflituosas que vivemos no dia a dia ou já assistimos em diversos filmes. O final não é feliz. Nesse caso, a mulher sai sem freios pelo teatro, no estilo Noiva Em Fuga, deixando o rapaz a vagar pelo palco.
Pelos corredores da sala de teatro, os bailarinos descem e sobem as escadas, inicialmente nus, em sentido horário, e vão construindo, com figurinos, objetos e movimentos, personagens clássicos da cinematografia mundial, tais como: um super-herói, uma enfermeira, um soldado, uma freira, um caubói, uma secretária, um nobre e uma princesa. É também um momento que a plateia protagoniza cantando e balançando o corpo na cadeira ao som caliente da música Don’t Let Me Be Misunderstood, da banda Santa Esmeralda. Essa cena lembra o cinema musical, com dança, interpretação e acompanhamento do refrão com o canto. Entre as sequências de dança, há trocas de figurinos e de objetos entre eles no palco. Tudo acontece a olhos vistos, em um momento de exposição total de todos.
A cena que antecede o final é um baile, uma festa, onde papéis sociais de gênero de invertem por meio do vestuário. As bailarinas entram de traje clássico masculino, enquanto eles usam vestido e salto alto. Livres de qualquer padrão, eles beijam uma bailarina. O auge é quando todos dançam nos corredores da sala de teatro ao som da dance music e com luzes coloridas no palco.
Um duo feminino regado de sensibilidade, generosidade e cumplicidade encerra o Cinequanon. O desempenho de uma companhia profissional, com carisma, vigor e maestria, explica o motivo porque a Focus vem construindo um público cativo de sua dança. O espetáculo cumpre com o objetivo e cria, do início ao fim, um mundo de sonhos, mesmo com os pés no chão, inspirando sensações por meio das músicas, das vozes ou da ausência do som, com objetos, iluminação, figurinos e, principalmente, a pluralidade de personagens que auxiliam a narrativa cinematográfica através da dança em diferentes ambientes e épocas.
Cinequanon, da Focus Companhia de Dança (Rio de Janeiro), por Henrique Rochelle
80 referências em 75 minutos, o desafio e sua realização
Concebida como uma homenagem à sétima arte, Cinequanon de Alex Neoral para a Focus Cia de Dança diz partir de 80 referências cinematográficas para compor um espetáculo. Para além do desafio de reconhecer essas referências, o real desafio da concepção da obra está em construir, em 75 minutos e uma dúzia de cenas, essas 80 referências. Se anunciassem 20 referências, ainda permaneceria uma dúvida sincera da presença delas todas na obra, 80, é um exagero de proporções hollywoodianas, que força um jogo dos 7 erros — 80 no caso — em que ficamos procurando na obra, e poucas vezes encontrando, esse número imenso de referências.
Essa difícil percepção não passou despercebida pela própria companhia, que oferece alguns paliativos nos textos de seus programas, defendendo que as referências por vezes sejam mais claras, e em outras sejam apenas atmosferas. Sairiam-se melhor se apontassem aquilo que a obra realmente dá a ver do cinema, com certos usos de recursos cinematográficos claros, que colocam o espectador num ambiente de consciência da tentativa de alusão cinematográfica. Porém, mesmo que fosse o caso, para além da consciência, resta a questão da qualidade da realização desses recursos.
Em seu início, a obra usa uma tela sobre a qual é projetada aquele aspecto de falha do cinema de rolo, e atrás da qual o elenco dança. Nessa mesma tela, depois de uma sequência inicial, são projetados créditos de abertura, como em um filme, e também veremos, dentro dessa estrutura, uma projeção de créditos finais (incluindo a lista dos “80 filmes” aos quais a obra diz fazer alusão). Tudo isso serve para imprimir em Cinequanon uma impressão de ser assistida em uma plataforma que mistura a experiência na platéia de um teatro com a experiência na platéia de um cinema. O trânsito entre essas duas áreas distintas também é reafirmado pelo uso insistente dos corredores da sala para passagem e movimentação dos bailarinos. A impressão é que a obra quer nos fazer sentir que o filme sai da bidimensionalidade da projeção e invade o espaço do público. E, em certo grau, isso acontece.
Talvez, aquilo que realmente mais aproxima a coreografia do cinema seja um sistema de organização que emula a edição de video — por exemplo em uma cena em que os bailarinos, usando diversas entradas e saídas, parecem realizar uma corrida contínua, como se fosse captada em múltiplas tomadas sequenciais — e de estruturas de montagem — como num momento com o uso de sobreposição da coreografia por imagens projetadas.
Tratando especificamente da coreografia de Neoral, a obra investe numa movimentação macro, repleta de pernões, e brações, alongados e estendidos, em kinesferas ampliadas, e se espalhando pelo espaço da cena. Também são observadas sustentações em apoios variados — no peito, nos pés, nas pernas, no pescoço, na bacia — que fazem o elemento mais interessante da proposta.
A grande dificuldade em Cinequanon é uma desmesura entre o sério e o cômico, por exemplo em uma cena em que os bailarinos com perucas gritam pelo meio da plateia, e causam mais riso, incômodo e confusão, do que medo e nervoso. Confusão também acontece numa cena que realiza um desfile de personagens, com os bailarinos começando nus, contornando a plateia pelos corredores e reaparecendo a cada vez com uma peça a mais de roupa, em diversos graus de vestimenta. Mais tarde, eles cantarão o verso de “please don’t let me be misunderstood” enquanto se despem novamente, então usando as múltiplas peças e acessórios acumulados para criar mash-ups de personagens sem muito propósito e sem muito resultado — o que faz um bom resumo da obra.
No que começa com um tom sério, para o qual há um retorno insistente, nas sequências longas e repetitivas que compõem a obra, acaba se sobressaindo algo que é cômico, mas que não é inteligente, por não ser eficiente. E essa mistura toda dá a impressão de que a obra não sabe ao certo o que quer ser: homenagem, referência, inspiração, adaptação, séria, cômica, dramática, lenta, agitada… Falta, como seria num filme, uma direção que encaminhe o projeto.
Puro em la mezcla, da Ale Kalaf Cia. de Dança Flamenca (São Paulo), por Cássia Navas
Puro em la mezcla apresenta um quarteto, também composto pela diretora e coreógrafa Ale Kalaf, o espetáculo contando com um trio masculino de músicos.
Kalaf vem de uma intensa trajetória em dança, com foco na dança e cultura flamencas, matizadas/mescladas/hibridizadas por dança e cultura do Brasil, como em obras de outra companhia presente em sua carreira: a Luceros, que nos deu a delicada força de Luceros Dança Toninho Ferragutti, obra na qual um dos principais acordeonistas do país – Toninho Ferragutti – liderava, com maestria, o ensemble de músicos em cena.
Em Puro em la mezcla, temos um palco moderno – a sala em formato arena (Adoniran Barbosa) -, ambientado como um palco tradicional: à direita da cena um quase quarto de vestir, com caixas de adereços, mantilhas, espelho, mesinha (quase de cabeceira) aponta para uma cenografia arcaica, pela qual, a nossa frente, acontecem câmbios de figurinos e climas teatrais.
Esta dinâmica mais tradicional é, no entanto, rompida, pela entrada do quarteto em cena, que minimizando ainda mais a distância entre plateia e artistas, convoca, através do canto e movimentação os que ali estão a participar de um espetáculo que remete a ritos de uma cultura da dança – como a das festas ciganas – e a cultura coreográfica como a de exibições em tablados flamencos espanhóis.
Subindo ao tablado, o quarteto vai percorrendo estruturas coreográficas em que se alinham solos das intérpretes – com destaque da jovem Milene Muñoz – danças em uníssono e duos, o final remetendo aos conhecidos términos do baile flamenco, em que danças tradicionais de dupla são chamadas para um encerramento festivo.
As mesclas de trajetórias que desembocam nesta obra, apresentam-se até mesmo no nome do espetáculo: Puro en la mezcla, em português – Puro na mistura.
O que este título parece estar a apontar? Para a questão das relações entre danças atuais de duas culturas – Brasil e Espanha – em discussão sobre o que seria o resultado duma hibridização em curso, concretizado num momento em cena – um espetáculo de dança- no qual desaguam formações e desejos de novos territórios.
Neste embate, o título apresenta um certo paradoxo: como anunciar que algo é puro, quando este “puro” se apresenta mesclado, misturado? (E sempre aqui cabendo a indagação, mais ainda nos tempos de crescente totalitarismo de toda sorte, sobre a existência duma “pureza” em qualquer manifestação em arte/cultura).
Pelo título desta obra de Kalaf, apresenta-se debate (e embate) presente nas artes da cena e na arte tout court, a pontuar para questões de pertença de uma tradição que se realiza/atualiza por várias cenas contemporâneas pelo mundo afora, aí mesmo incluídas cenas espanholas exteriores a topologias primevas da dança flamenca- o sul da Espanha, a Andaluzia, etc.
Ora, o flamenco que se faz no Brasil, em São Paulo, no estúdio de Ale Kalaf é brasileiro, por muitos motivos, a se discutir sempre, também a partir de estudos que venho desenvolvendo há tempos, através da trilogia: dança de um lugar, dança de um lugar e dança sobre um lugar. Todavia, pelo fato de estar sendo realizado por intérpretes do Brasil, constitui-se em dança nossa.
Talvez o puro do título da obra de Kalaf pudesse ser substituído por Genuíno na mistura, por tratar-se de algo genuíno – porque único e singular – elaborado por mesclas em português e “mezclas en castellano”.
Olé! Axé! Viva a dança do Brasil
Puro em la mezcla, da Ale Kalaf Cia. de Dança Flamenca (São Paulo), por Amanda Queirós
O título de Puro en la Mezcla é uma provocação em si. Como é possível falar de pureza em meio à mistura?
Com isso, a bailarina e diretora Ale Kalaf parece querer evidenciar de partida que seu flamenco é diferente. É brasileiro, e não andaluz, mas busca nas origens dessa linguagem a sua inspiração e, acima de tudo, sua motivação.
A ideia da mistura se apresenta no espetáculo a partir dos elementos que, pouco a pouco, são incorporados à cena.
Colocados no palco, ao lado do tablado, uma penteadeira e um espelho fazem às vezes de camarim aberto ao público. Ali, as cinco bailaoras encontram elementos a partir dos quais vão construir os solos de abertura do espetáculo.
São xales, adereços, campanas e castanholas que, pouco a pouco, colorem o preto único que elas ostentam da cabeça aos pés. Com isso, os longos vestidos deixam de funcionar como uniformes e passam a revelar individualidades, além de diferentes habilidades.
Todas apresentam em comum uma força própria do sapateado flamenco, mas, em seus solos, há espaço para destacar algum traço especial. Uma carrega na agilidade dos pés, outra capricha nas torções de tronco enquanto uma terceira se dedica ao torneado das mãos e braços.
O movimento de cada bailarina é acompanhado com atenção pelas colegas, dispostas em bancos que delimitam o lugar da ação, enquanto os músicos ocupam o fundo. A cada nova dança, elas alternam também sua disposição no tablado. Apesar de restrito, o espaço se amplia com as dinâmicas apresentadas e a conexão com o público.
Essa comunicação se beneficia da informalidade própria da sala Adoniran Barbosa, que, fechada com vidros transparentes, deixa a ação às vistas de quem passa fora dela. A arquitetura serve especialmente bem a esse tipo de espetáculo, que busca evocar o olho no olho do tablado flamenco a partir de uma aproximação mais direta e reativa de quem assiste. Sem apresentar um comprometimento narrativo, Puro en la Mezcla faz dessa relação a base na qual se constrói.
Puro em la mezcla, da Ale Kalaf Cia. de Dança Flamenca (São Paulo), por Jonathas Leite
A Cia de Dança Flamenca Ale Kalaf encerrou mais uma edição do Semanas de Dança com o espetáculo Puro en la Mezcla com direção da própria Ale Kalaf – bailarina com formação em flamenco, balé clássico e dança contemporânea. Ela estudou com renomados professores no Brasil e na Espanha e, desde 2006, vem desenvolvendo com esse grupo uma pesquisa de movimentação flamenca e musicalidade brasileira com a colaboração do compositor e músico Toninho Ferragutti.
Apreciar um espetáculo de dança flamenca é estar atento ao estado de duende, ou seja, uma fusão entre o que há de mais íntimo no artista e a arte. Ele é algo que reside no fundo do ser, sendo em algum momento externado. É preciso que o intérprete esteja totalmente presente e deixe-se ser levado pelo inconsciente para que o estado de duende aconteça, transcendendo a técnica. Segundo estudiosos esse acontecimento promove nos dançarinos a sensação de serem levados ao mais profundo deles mesmos.
O espetáculo inicia quando três músicos entram no palco. Logo em seguida, ao som de palmas, canto e encenação, as intérpretes entram em cena. Num jogo de olhares entre si, elas caminham na frente da plateia. Aparentemente é um convite para que todos os presentes se sintam à vontade. A sensação é de que o tablado, onde bancos de madeira já estão dispostos, se amplia após um instante onde todas as intérpretes apresentam seus sapateados, seus braços deslizando no espaço com harmonia, força e alma.
Uma das intérpretes se dirige ao espelho situado ao lado do tablado, busca um lenço preto e joga nos braços de outra sentada. Essa, por sua vez, levanta-se, envolve seu pescoço com o lenço e revela uma força desafiadora através da dança e do olhar. Seu sapateado e seus braços aprisionam a atenção do público. É possível emoldurar sua imponente e latente figura no tablado. Acreditando na existência do estado do duende, é possível vê-lo surgindo nesse exato momento.
Na cena seguinte, todas sentam de costas. Outra intérprete vai até a penteadeira e busca campanas – um instrumento parecido com sinos -, que produzem sons através do contato entre os dedos. Sua dança é forte e viva, e o som produzido remete a algum mantra, oração ou reza direcionada ao divino.
No centro do tablado, acompanhada por palmas, uma das intérpretes levanta-se enquanto as demais continuam sentadas. É nítido, desde o início, seu domínio técnico. Seu corpo é expressivo, seu sapateado é forte e seus braços são carregados de alma. Ao posicionarem os bancos numa diagonal intercalada, em zigue-zague, à esquerda de quem assiste, outra intérprete se dirige ao espelho e incorpora uma flor vermelha na cabeça. Sua expressão facial tem intensidade, e não menos carregados de alma são seus braços e seus pés, que transitam no tablado com dinâmica e destreza.
Numa diagonal alinhada, o desenho dos bancos é formado pelas intérpretes que se deslocam no espaço, mas uma vez outra intérprete vai até a penteadeira e busca um par de castanholas. Ao som do instrumento, ela dança com ar de alegria, com um contagiante sorriso. Sem perder a força, transita com tranquilidade entre o sapateado e os desenhos dos braços e as castanholas parecem cantar de tão rítmicas que soam aos ouvidos.
Após uma sequência de solos, todas se dirigem ao espelho e tomam para si véus de tonalidade bege com bordado de flores. Elas os põem sobre a cabeça e dançam harmoniosamente em conjunto.
Um das intérpretes troca o véu bege por um preto e o arranjo de cabelo no tamanho pequeno por outro bem maior. Ela aparenta representar alguém de idade que é respeitada por sua sabedoria dentro daquele convívio. Ela dança elegantemente e se mantém sóbria a todo instante. Em determinados momentos, a plateia suspira ao vê-la não deixar cair o arranjo da cabeça nos movimentos de cambré – quando o tronco se curva para trás ou para os lados e a cabeça acompanha o movimento.
O espetáculo finaliza com uma aceleração do ritmo musical. Todas vão até a penteadeira e o espelho pela última vez, incorporando lenços, brincos e leques coloridos. O semblante das intérpretes muda. Um instante de graça e leveza toma conta da dança e os movimentos dos braços ganham cor no balanço dos leques no ar. A movimentação é vibrante e apoteótica, com direito a pose final.
Ladrão, da Companhia Zumb.Boys (São Paulo), por Cássia Navas
Entro na plateia poucos minutos antes do início de Ladrão. No palco da Sala Adoniran Barbosa, os intérpretes da Zumb.Boys, num lusco-fusco pré-cena cantam, como num ritual de tribo masculina. É uma cantiga suavemente forte, um chamado para reunião, uma união quase-reza. Surpreendida pelo acaso, participo de um “esquenta” da companhia, em momento que, para mim, já se constitui em início do espetáculo.
Num contraste entre solidão e coletivo, o som deste coral ficaria comigo ao longo da obra, sobretudo nos momentos em que os intérpretes – solitariamente – enunciam seus depoimentos sobre o ato de roubar, furtar, tirar do outro ou de espaços de origem os objetos que se furta/rouba.
Os depoimentos apresentam-se como estratégias cênicas para uma dramaturgia relacionada às atuais “autobiografias”, remetendo-se a situações da infância e juventude dos artistas. A justaposição de textos de matriz verbal – muitas vezes histórias anunciadas em off – à dança é uma das marcas de muitas danças urbanas que sobem ao palco. Em Ladrão, esta questão se coloca de maneira mais contemporânea compondo o todo do espetáculo, mesmo quando a dança dá lugar à fala ou quando a fala cessa para a dança acontecer.
Estes se apresentam – para além das coreografias retrabalhadas, em pesquisa original, sobre as danças urbanas em si – uma interpretação de “espreita e esgueiramento”, como se a fugir estivessem, envolvidos em possíveis furtos/roubos.
Neste sentido, uma questão: estes deslocamentos marcados por uma atitude furtiva e, potencializados pela forma dum teatro de arena sem pernas/coxias, não apontam para “aquele (a)” de quem se rouba, mas para os agentes do roubar/furtar, numa palavra: somente para o ladrão, que dá título à obra.
A partir desta dinâmica (que se repete), insiste na obra uma certa monotonia de estados dramatúrgicos. Se isto for uma opção, teria que ser mais bem reiterada. E, para tanto, os artistas da Zumb.Boys têm escopo e competência, além do desejo, já que manifestadamente declaram querer comunicar através da arte da dança.
O desejo também aparece na obra, como um mobilizador para o furto/roubo, um pano de fundo para as ações do tirar-e-correr, tomar-e-fugir e para os motivos destas ações.
Aqui a coreografia toca uma questão fundamental: a diferença entre necessidade e desejo. A primeira saciada momentaneamente, algumas vezes pelo furto/roubo de algo de que se necessita- de fato- para matar a fome, enfrentar o frio, abandono, fraqueza, doença, desamparo, fazer face a impossibilidades de sobrevivência sobre o planeta. O segundo- o desejo- este insaciável porque falta, fresta, buraco a ser preenchidos sem cessar, movendo-nos em direção do afeto, ao amor, ao outro, às ações, ao futuro, ao devir e à arte.
Ladrão é comunicação/expressão/representação/reapresentação desta tensão entre polos- necessidade e desejo-, importante debate para uma companhia que, em 2017, cumpre 10 anos de sua trajetória, entrelaçada aos percursos- todos – de dança na cidade de São Paulo, Brasil.
Ladrão, da Companhia Zumb.Boys (São Paulo), por Henrique Rochelle
Um painel de peças metálicas com o formato de um olho recortado marca a cena de Ladrão, espetáculo de 2015 do Grupo Zumb.boys, que integrou a mostra de repertório da companhia, celebrando seus 10 anos de pesquisa cênica dentro da programação do CCSP Semanas de Dança 2017, do Centro Cultural São Paulo.
Iluminado de contra, esse olho nos coloca numa situação de assistirmos enquanto somos assistidos, que se combina a um grande uso de fumaça no palco para criar a atmosfera de mostrar e esconder que a obra constrói. Nesse ambiente, Ladrão começa com uma entrevista, microfonada para a sala, questionando, não só o entrevistado, mas, indiretamente, o público e os bailarinos, se já roubaram alguma vez, se já foram roubados.
O título da coreografia já nos preparava para a discussão de uma figura emblemática e quase comum da nossa sociedade, o ladrão, reconstruída por Márcio Greyk a partir de uma perspectiva humanista e individualizada: sem generalizações do que seja roubar, do que seja ser roubado, do que leva alguém ao ato, e de como reagimos e nos sentimos nessa situação.
Para caracterizar as muitas variações de um tema constante, Ladrão é atravessada por discursos gravados e relatos feitos em cena pelos bailarinos, focando não só no medo da vítima, mas também no nervoso e na apreensão de quem rouba. A estratégia tem sucesso ao nos transportar para histórias diversas, que não são — nem tentam ser — ilustrativas da dança, ou ilustradas pela coreografia, mas que funcionam para criar uma aura e um desenvolvimento do tema enquanto possibilidade de reflexão.
Aqui, não estamos reduzidos à dicotomia do certo e errado, do bem e do mal, do aceitável e do inaceitável. Greyk transporta a cena para além disso, indagando o que leva a esse tipo de ação, e às sensações por ela gerada em seus participantes. Coreograficamente, o que mais interessa é o aspecto quase lúdico da estruturação e realização dos golpes, convertidos no palco em jogos cênicos que resultam em uma movimentação predominantemente individualizada, mesmo quando feita em conjuntos.
Os agrupamentos dos intérpretes são alterados rapidamente, com bailarinos que se dispersam e correm, e todas as muitas entradas e saídas de cena são feitas com pressa, em instantes furtivos. A ocupação do espaço foca os modos como os indivíduos se posicionam a partir da presença e da influência da existência de outros por perto, o que é bem ilustrado em uma cena de impedimentos, com caminhadas que não se completam, em que os bailarinos tentam atravessar o palco, mas sendo constantemente barrados por outros.
Ao final da obra, a metáfora do olho que tudo vê, presente o tempo todo na cena, é expandida, e o painel metálico é atacado pelos intérpretes, mudando a ambientação sonora e causando um efeito visual de impacto. Aqui, já não estamos mais no domínio da análise de um sistema, passando verdadeiramente a um seu questionamento — social, pessoal, e político. Feito artisticamente, com uma mão leve que evita pregar e dar lições, mas que consegue comunicar e mostrar uma situação aparentemente comum — ainda que, claramente, diversa —, dentro de sua realização, seus efeitos e seus desdobramentos.
O diálogo principal de Ladrão se dá entre o indivíduo que rouba e ele mesmo. A esse diálogo solitário temos acesso pela grande quantidade de texto falado — e nem sempre claramente compreensível — que pauta a obra. Essa impressão da solidão é aumentada pelo trabalho quase que constantemente isolado dos intérpretes. A estratégia é arriscada, mas faz sentido, porque se alimenta das origens dos movimentos das danças do hip hop, ao mesmo tempo em que se reflete na exploração dada para o tema em questão.
Para o grupo, sobretudo quando assistido num contexto como esse de retrospectiva e mostra de repertório, Ladrão afirma o seu valor enquanto uma obra de uma primeira fase, que se desenvolve e melhora notavelmente nos trabalhos seguintes do grupo, sobretudo a partir da integração e da experimentação da mistura do b-boying com outras formas de movimentação, e com a continuidade da exploração cênica contemporânea, que firmaram mais recentemente o trabalho do Zumb.boys, com o seu merecido reconhecimento.
Ladrão, da Companhia Zumb.Boys (São Paulo), por Josie Berezin
O Semanas de Dança 2017, ocorrido no mês de setembro, veio jogar luz sobre companhias de dança que contam com um histórico de mais de 10 anos de trabalho artístico e que, “embora em diversos estágios de maturidade e percurso, transpiram atividade constante e incessante desde meados da década passada”, como diz o texto da curadora convidada, Lara Pinheiro.
O Grupo Zumb.Boys, com lugar de destaque nesta edição da mostra pela comemoração de seus 10 anos de pesquisa cênica, teve a chance de apresentar seus cinco espetáculos: B.E.C.O. (B-boys em Construção Original), Dança por correio, Ladrão, O que se rouba e Mané Boneco, além de realizar um bate papo com o público sobre as suas formas de criação em dança. Neste apanhado de sua trajetória, pode-se perceber que ao longo dos anos o grupo vem construindo uma linguagem própria, com base na cultura hip hop e das danças urbanas e na linha de pensamento da dança contemporânea, com um desenvolvimento singular a cada projeto realizado.
O elenco atual é formado por bailarinos jovens (todos do sexo masculino), designados como “intérprete-criadores”, o que talvez indique um processo de criação mais coletivo do grupo, sob a direção de Márcio Greyk. Curioso notar que em seus percursos individuais, todos eles participaram do Projeto Núcleo Luz Fábricas de Cultura, este constituindo-se como importante lugar comum de passagem, experiência e aprendizado, seja enquanto espaço de formação para bailarinos ou para prestar assistência artística – como é o caso de Greyk. Partindo de lugares e vivências em comum, o Grupo dança elementos de suas realidades.
Ladrão, por exemplo, trata de uma figura muito recorrente na cidade e que faz parte do cotidiano da maioria dos brasileiros, porém teima em ser ignorada, ao menos no campo da arte. O Grupo Zumb.Boys corajosamente não só olha para ela, como a usa para nomear o espetáculo. Obra criada em 2015, tece uma reflexão crítica acerca do lugar que este ocupa na sociedade, e das condições e contextos que levam certas pessoas a roubarem. Logo na cena inicial, naquele mesmo momento, “ao vivo”, um espectador é questionado sobre suas atitudes em situações de roubo e diante de ladrões. Este diálogo, inesperado e com respostas de improviso, já insere na cena um tom de proximidade e provocação com que o tema que será abordado ao longo da dança.
E a coreografia, com sequência de quedas, movimentações no plano baixo e confrontos entre bailarinos, é frequentemente entrecortada por histórias de pequenos furtos, encenação de cenas cotidianas e falas sobre roubos, de modo que os movimentos bem executados pelos bailarinos não nos deixam esquecer o tema central lá apresentado. É desta forma que Ladrão recria esteticamente as tensões vividas nas grande metrópoles, espaços violentos que, via de regra, apresentam poucas possibilidades para os mais pobres, temas estes que são presentes na estruturação das danças urbanas. Ladrão pode ser vista, assim, como uma espécie de crônica ou denúncia social dançada, que de forma poética traz o problema social para dentro da cena e nos aproxima de situações que diariamente nos recusamos a ver.
Ladrão, da Companhia Zumb.Boys (São Paulo), por Amanda Queirós
Ladrão é um trabalho duplamente confessional. Sua estrutura se ergue a partir de depoimentos dos rapazes do Zumb.boys, que narram relatos de infância nas quais crianças foram agentes de roubos, mas, principalmente, das experiências corporais dos bailarinos com essa realidade na periferia de São Paulo. Isso significa incorporar na dança não exatamente o gesto do furto em si, mas todo o imbróglio social do qual esse ato é apenas indício.
É um contexto que se faz presente, por exemplo, no rapaz negro que tenta seguir andando, mas é sempre empurrado de volta para trás – um espelho das dificuldades que vive diariamente -, ou quando o rosto dos meninos surge iluminado somente por uma lâmpada vermelha giratória, daquelas que costumam ficam em cima dos carros de polícia.
A linguagem das danças urbanas é usada aqui para evidenciar um corpo em eterna fuga, que se debate e se desdobra em acrobacias e saltos difíceis para continuar a se afirmar. Há momentos de conjunto em uníssono, mas o que importa mesmo aqui são os gestos individuais e como cada um se revela nesse contexto. A violência costura essa ação, especialmente quando os bailarinos se atracam entre si, criando momentos de contenção e resistência.
A fala também está presente não apenas no discurso dos bailarinos com a plateia, mas em depoimentos que servem como trilha, denunciando situações de exclusão. Essa estratégia se transforma em uma eficiente guia dramatúrgica do que se apresenta.
A ação se passa em frente a um painel metálico, disposto no fundo esquerdo do palco. Ao centro dele, há a figura de um grande olho que tudo observa, impassível. Ele acaba alvejado e destruído pelo elenco ao fim do espetáculo. É curioso pensar na ideia desse olhar quando a sensação é de que a opinião pública simplesmente não presta atenção ao cenário apresentado e todos os seus desdobramentos como deveria.
O que Ladrão faz, portanto, é colocar uma merecida lupa sobre isso. Sem apontar o dedo para ninguém, o trabalho entende a questão apresentada como um problema de todos. A complexidade dela está retratada de forma evidente, mas também com certa delicadeza, e essa mistura ajuda a evocar a alteridade exigida para esse tipo de reflexão.
Ladrão, da Companhia Zumb.Boys (São Paulo), por Jonathas Leite
A programação do Semanas de Dança 2017, no Centro Cultural São Paulo, contou com pelos menos três espetáculos de distintos grupos que desenvolvem seus trabalhos dentro e fora da capital paulista. O grupo de danças urbanas Zumb.boys, da zona leste, apresentou Ladrão para celebrar seus dez anos da pesquisa cênica. Os Zumb.Boys surgem na/da periferia de São Paulo e se colocam como voz ativa, propondo reflexões e protestando através da dança em torno de questões sociais que não são novas para um país chamado Brasil.
O espetáculo inicia com uma entrevista feita por um dos dançarinos com um dos espectadores que aguarda para entrar na sala. A voz do entrevistado ecoa no teatro para os demais espectadores. As perguntas estão diretamente ligadas com o tema da obra: Você já roubou? Já foi roubado? Qual sua sensação? O que pensa de quem rouba? O fato de elas serem respondidas nos primeiros minutos do espetáculo mostra a interação entre artistas e plateia desde o início.
A obra se dá por sequências coreográficas que rompem com o padrão. Nelas, os dançarinos urbanos geralmente se posicionam e se deslocam apenas de frente para o público. Apreciar o trabalho do grupo é enxergar a técnica do breaking a partir de uma estética inovadora, talvez contemporânea, fugindo do estilo que, durante muitos anos, condicionou as coreografias e espetáculos de danças urbanas no Brasil.
Já o figurino não foge do padrão: camisa e calça típica de uma roda de breaking. Eles usam tênis e a iluminação dialoga com as sensações expressas pelos corpos que dançam. No fundo, precisamente na diagonal esquerda de quem assiste, há uma espécie de escultura de alumínio com formato de olho no centro. Em mais da metade do espetáculo a trilha sonora é instrumental, com nítidas influências da cultura hip-hop. Em alguns momentos, o som apresenta falas de cidadãos e a voz da cantora Elza Soares.
A base das sequências acontece por meio de movimentos como top rock e foot work, com variedade de desenhos coreográficos nos quais se percebe que os movimentos foram pensados e exaustivamente ensaiados. Embora os braços estejam aparentemente livres no desenrolar das coreografias, eles não deixam nenhuma sensação de que algo esteja faltando.
A utilização da fala dos dançarinos relatando suas experiências com roubo é um ponto marcante do espetáculo, que foge muito da estética comum do breaking, lançando a plateia no campo da teatralidade com dramaticidade. Embora, em alguns momentos, pouco dê pra ouvir o que eles dizem, a ideia é válida.
Sendo o breaking periférico e uma resposta dos que são colocados à margem na sociedade, ouvir a voz em off de um sujeito questionando as causas de tanto roubos num país, mesmo que emergente e próspero em dinheiro, é um momento para refletirmos sobre uma situação de corrupção atual. Quando se pergunta “por que indivíduos roubam?”, uns vão dizer que é por maldade, dizendo indiretamente que pessoas nascem más; já outros vão dizer que somos formados socialmente para tal ato, trazendo as dificuldades do dia a dia como um ponto a ser refletido.
Uma cena que chama a atenção, e deve ser ressaltada, é quando um dos dançarinos tenta se deslocar para a lateral, mas os demais não permitem. É o momento no qual fica corporalmente mais óbvio quando outros aconselham para qual caminho seguir. Na contramão dos conselhos, surge uma pergunta: o que a sociedade oferece para o moleque ser alguém melhor? Como julgá-lo se não sabemos que oportunidades ele teve? Será que teve?
Oportunidade é a palavra-chave do espetáculo – ou melhor, a ausência dela. Essa falta lança na marginalidade e condiciona muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos a sobreviverem em periferias na criminalidade. Isso não é uma justificativa e sim uma realidade nua e crua, resultante da desigualdade social que acompanha de berço a população brasileira.
Refletir sobre oportunidade, desigualdade e criminalidade no país, ao tratar especificamente de roubos, é encarar os índices alarmantes de crianças e adolescentes envolvidos nesses delitos. O espetáculo Ladrão narra essa situação sem delongas e pudor, indo de encontro com a fala de alguns que ainda afirmam que pessoas nascem predestinadas à maldade.
Tecnicamente os fatores de movimentos que predominam nas sequências são: forte, acelerado, contínuo, utilizando principalmente os níveis médio e baixo nas quedas, que fluem tranquilamente, sem dar sensação de vertigem na plateia.
O espetáculo finaliza com os integrantes jogando moedas na escultura de alumínio com formato de olho. Aparentemente eles pretendem que as moedas entrem no olho, mas, pelo diâmetro da circunferência, isso é praticamente impossível. A cena faz analogia a uma criança que nasceu, cresceu e amadureceu na periferia e sente também ser quase impossível sobrepor a desigualdade social. Numa periferia brasileira, a criminalidade está posta não porque os indivíduos nascem para tal, mas pela falta de oportunidade, de poder escolher, de decidir que caminho trilhar, o que aprisiona desde cedo muitas crianças e adolescentes.
Por se tratar de um espetáculo que dialoga com um atual, o grupo Zumb.boys é feliz em sua proposta. A pesquisa cênica ao longo desses dez anos do grupo surte efeito positivo, colocando-o num patamar diferenciado entre a maioria dos grupos de danças urbanas no país. Mesmo não sendo o único na cidade de São Paulo, ele abre portas para novos deslocamentos na maneira de coreografar danças urbanas sem fugir da essência da cultura que essas danças compõem. O fundamento da mensagem não muda: é preciso resistir, protestar e revolucionar através da arte. O que muda – ou melhor, evolui – é a maneira de fazer essa arte, no caso a dança.
Os corpos continuam expressando o que sentem, mas, agora, de maneira mais ampla, permitindo-se dialogar com o desconhecido, com o novo, sem deixar de lado o vanguardismo do breaking, apenas fazendo-o beber de outra fonte. Sendo a dança efêmera na história dos corpos, proporcionando sempre novas releituras, as danças urbanas do grupo Zumb.boys revelam êxito nesse processo.
Esperemos as próximas obras dele, assim como o desenrolar dessas danças e suas maneiras de pesquisar, dançar e refleti-las.
Foto de capa: Divulgação do espetáculo Ladrão, da Companhia Zumb.Boys