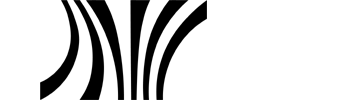Filmes? Para que filmes? Por Heitor Augusto


ILUSTRAÇÃO ROBINHO SANTANA
I.
Semana passada, um colega curador baseado em Amsterdã, Holanda, postou uma foto no Twitter, na qual compartilhava a alegria de assistir a uma sessão de filmes fora de casa, sua primeira em muitos meses.
Fiquei com inveja. M-U-I-T-A I-N-V-E-J-A.
É nesse nível que estamos numa pandemia global: com inveja de alguém que assistiu a uma sessão de cinema com o rosto enfiado numa máscara, as mãos ensopadas de álcool em gel e socialmente distanciado de outros corpos que, meses atrás, constituíam algo que chamávamos de experiência coletiva do cinema.
II.
Programo filmes e faço investigações curatoriais que priorizam tanto espectadores pretxs quanto as realizações dos não-brancos, mulheres e LGBTs – ou, como eu gosto de chamar brincando-sério, os condenados da terra. Exerço um ofício que me alimenta profundamente e gosto de pensar que a minha intervenção no mundo também serve de alimento para muitos dos meus. Ainda assim, meu ofício sequer pertence à Classificação Brasileira de Ocupações e, no contexto de uma pandemia, quando as urgências se intensificam e a necropolítica1 mostra-se ainda mais material, programar filmes soa como a última das necessidades.
Mas por que e para quê programar filmes? Antes de dividir os meus porquês, alerto para a priorização do termo “programador” em detrimento de “curador” – vez ou outra usá-lo-ei como sinônimo, ainda que não necessariamente o sejam. Faço essa priorização para questionar uma certa banalização do uso do termo e também para desmistificar a aura de voz exclusiva de autoridade implicada em “curador”. Peço, assim, licença para falar da importância dessa paixão e como a pandemia inviabiliza – pior, transforma em pavor o que era segurança – a maior potência na programação de filmes: a experiência coletiva de corpos aglutinados num espaço físico e exercitando um pertencimento simbólico, afetivo e intelectual a um mundo que tantas pequenas mortes causou em nós, ou seja, o mundo das imagens cinematográficas.
“Programador”, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, seria um lavor destinado à tecnologia, à mobilidade urbana e à indústria. Ou seja, haveria um conjunto de códigos – ou regras e convenções que ordenariam um processo. Ao programador caberia organizá-los, sequenciá-los e, pronto, uma ação seria executada ou uma engenharia posta em prática. O ofício de programador de filmes não poderia ser mais distinto que isso.
Quando comprometido com a revisão das hierarquias que estabeleceram na tradição das formas no Ocidente o que é “bom” e “digno” de ocupar uma estante etiquetada com “legítimo”, programar filmes é um ato disruptivo e que convoca à desobediência. Quando interessado no diálogo com as espectatorialidades daqueles que há 27 anos contrariam as estatísticas2, torna-se um ofício implicado também na forja de espaços simbólicos onde o desobediente ato de olhar de volta para as imagens, como coloca bell hooks em “O olhar opositivo”, seja exercido em toda sua potência3.
Quando programo – especialmente quando faço projetos fora das estruturas dos festivais de cinema, cuja matéria de trabalho é, quase sempre os filmes da safra anual – penso nas bichas novinhas que daqui a pouco entrarão na idade adulta; nas pretas e nos pretos mais velhos que têm a nos ensinar, mas também a entender com as elaborações de mundo das outras gerações; naquele pretinho que, como eu, descobriu jovenzinho no cinema uma forma de dar nome, cor e cheiro aos sentimentos; nos realizadores e profissionais pretos do audiovisual que se formam vendo e pensando imagens; acima de tudo, penso na possibilidade de abrir todas as janelas, deixar o ar entrar e vislumbrar uma utopia: o mundo é nosso, dos pretos. E como o cinema é parte do mundo, por extensão: o cinema é nosso, dos pretos.
III.
Durante o Nicho Novembro, olhamos de volta para imagens pretas, sobre pretos ou por pretos.
Depois de meses de discussão para afinar nossa atuação, Fernanda Lomba, Raul Perez e eu lançamos o Nicho 54, instituto que atua na estruturação da carreira de pessoas negras que trabalham com o audiovisual, bem como na construção de iniciativas que visam a equidade racial no setor. Dez dias de evento. Duas masterclass, quatro workshops, uma festa aquecida pelo Afrojam e oito sessões organizadas na mostra “Amor Negro Herói”4, da qual fiz a curadoria e programação.
Na pequenina sala de cinema do Jardin do Centro, café no centro da cidade de São Paulo do qual um dos donos é preto, um monte de preto colocou suas caras pretas mirando para uma tela de onde projetaram-se pretas detetives dando pernadas, pretos bichas ensinando o glossário enviadado de estalar os dedos, pretas sapatonas se beijando na cachoeira, pretas mostrando para os pretos como o racismo os tornou viciados em carne branca, pretos recolonizando a nossa cidade, pretas salvando a humanidade…
Não quero focar nos filmes, mas sim como eles foram assistidos, por quem e como ali vivemos, a despeito do que nos foi dito, um pertencimento pleno ao mundo das imagens e do cinema, mesmo quando decidimos não nos identificar com uma imagem. É impossível comunicar em palavras o que foram aquelas oito sessões e a imensidão da generosidade de realizadores e público na construção da atmosfera do Nicho Novembro e, mais especificamente, da mostra “Amor Negro Herói”. Relato um caso que, penso, ilustra o que conseguimos ali.
Decidi que o filme de abertura seria Cleópatra Jones, longa de 1973 no qual Tamara Dobson interpreta uma agente especial que desmascara um policial racista que aterrorizava a comunidade negra, em particular um centro politizado que atuava na reabilitação de pessoas pretas adictas. Muitos fatores influenciam a escolha do filme de abertura de uma mostra ou festival, do tom que se quer estabelecer para a experiência conjunta a fatores políticos e de visibilidade. Para “Amor Negro Herói”, abrir com essa ficção seria uma forma de comunicar o que a totalidade do Nicho Novembro almejava: projetar o ser preto no mundo como potência infinita.
Começa o filme. Estou na parte de trás da sala, escondido atrás das cortinas pretas – sempre que posso, revejo junto ao público todos os filmes que ajudei a programar como forma de aferir a fruição. Muitos risos, muita gente preta relaxada. Tá rolando. Rolou. Fim da projeção. Entre risos e gargantas sedentas pela festa que viria a seguir, uma espectadora me puxa de lado – não citarei seu nome, mas ela sabe que falo dela.
Ela diz algo assim: “Poxa, Heitor, mas por que até em um filme de preto legal assim as sapatonas têm de ser as vilãs?”
Com apenas uma frase, essa espectadora crítica revelou, de forma carinhosamente direta, o elefante branco quando se trata dos filmes realizados no contexto do Blaxploitation: o profundo desinteresse por uma perspectiva que leve em conta a interseccionalidade e um desavergonhado engajamento na reiteração da homofobia5. Retardamos a nossa saída da sala e conversamos sobre isso, reconhecendo que, mesmo em imagens centradas na experiência negra, algumas formas de estar no mundo são expressamente atropeladas, reforçando, por meio do cinema, a violência do mundo.
Esse momento pós-sessão foi único. Impregnada da felicidade e da indignação trazida por aquelas imagens, ela falou. Ao falar, teve sua espectatorialidade respeitada e reconhecida como legítima. Penso que ali formou-se uma relação triangular entre filme, espectadora e curador. O filme transformou-se num organismo vivo, pois encarado de forma dinâmica, sem a mumificação que o protegeria do mundo; a espectadora ficou ainda mais fortalecida em relação ao seu lugar no mundo; eu, o curador, saí ainda mais ciente de como esse ofício tem de estar nas nossas vidas.
Agora, eu te pergunto: como abrirmos nossos poros num pós-sessão virtual em que nossos corpos se transformam em pequeninos quadros numa tela de computador? Como falar das coisas desconfortáveis quando estamos mediados por uma tecnologia que não permite a fala simultânea de duas ou mais pessoas?
Como ativar o calor sem os corpos?
IV.
Como programar filmes difíceis de programar sem a presença dos corpos?
“Por difíceis de programar”, entenda-se: filmes que demandam um intenso engajamento espectatorial, bem como um alto nível de atenção e concentração. Talvez esteja superestimando essa questão, mas ela realmente me apavora e representa um imenso desafio para qualquer projeto que preveja exibição online de filmes durante a pandemia. Se mesmo eu que já desenvolvi uma musculatura mental, sensível e física para esse tipo de filme por conta do meu trabalho me percebo muito mais disperso, como está a condição de espectadores não-especializados?
Outro desdobramento incômodo dessa questão: como pedir atenção a esse tipo de obra quando a ansiedade trazida pela insegurança financeira aumenta exponencialmente?
Mais um desdobramento: poderemos programar a desesperança, matéria de tantos filmes ótimos, ou neste momento estamos, tal como numa época de guerra mundial, trancados para imagens que não sejam anestesiantes? A recente injeção de energia que o movimento Vidas Negras Importam recebeu nos EUA nos últimos dois meses pode ser um indicativo de que haja disposição coletiva em manter-se desperto, lúcido e alerta. Para acabar com o racismo, talvez, mas para ver filmes, essa coisa supérflua que de nada serve? Não tenho certeza.
(Até eu fiquei cansado aqui. Vou dar um tempo e parar de falar da pandemia).
V.
Qualquer artigo que se dedique a investigar a atuação da curadoria invariavelmente reserva um espaço para refletir sobre a etimologia da palavra “curadoria” e como os sentidos de “cura” e “cuidado” a constituem. Tenho uma hipótese, contudo: penso que apenas as mulheres, os corpos ativos em sua dissidência de gênero e orientação sexual, os pretxs (e também os “people of color”, pra dialogar com modos de racialização do hemisfério Norte) conseguem compreender a profundidade de “cura” e “cuidado”. Só quem experienciou a dolorida relação de sentir-se atraído/ser repelido pelo cinema compreende como o ato curatorial vai muito além de organizar o caos do mundo numa experiência aprazível para os sentidos.
Apenas quem já sentiu que “o cinema não é para mim” acessa essa dimensão de cura além de uma compreensão racional.
Uma colega branca que atua na preservação de filmes – outro ofício tão importante, mas maltratado aqui no Brasil, haja vista os repetidos ataques à Cinemateca Brasileira – me recomendou o ensaio “Conspiracies and Caretakers: Making Homes for African American Home Movies” (“Conspirações e Cuidadores: Construindo Lares para os Filmes Caseiros dos Afro-Americanos”). Talvez ela nem saiba, mas caiu como uma luva para a reflexão que desenvolvo aqui.
No ensaio, a artista e preservacionista Ina Archer apresenta uma síntese cirúrgica do que é sentir-se atraído/ser repelido pelo cinema. Ela escreve:
Adoro ir a sessões de filmes antigos e me deleitar nas exaustivas pesquisas em fóruns de cinema de filmes produzidos pelos estúdios no início da era sonora; mas, se você jogar uma pedra nos registros de um festival musical, em cada uma das vezes certamente irá acertar a cabeça de um show cômico racista. É bem provável que cada sessão tenha ao menos um momento desajustado de ofensa racial. Na condição de cinéfila, experienciei uma espécie de Síndrome de Estocolmo: aquele momento desconfortável que se repetia a cada vez que uma personagem aparecia com a cara pintada com uma tinta preta caseira, com o rosto coberto de lama ou com maquiagem preta. Sentia como se um holofote fosse apontado para mim bem no meio da sala, expondo a minha presença preta que estragaria a diversão de todos. Ainda assim, eu retornava. Algo nessas projeções era visceral e aprazível, mas também estranho e definitivamente errado – e indubitavelmente central para o desenvolvimento do gênero comédia musical. Estou determinada a trabalhar com esse material na condição de preservacionista e programadora, mas, conforme fico mais velha, minha tolerância encolhe6.
Ina fala em nome de todos nós que exercitamos uma fruição sensível e intelectual com a arte que definiu o século 20; uma arte que, contudo, também delimitou bem d-e-l-i-m-i-t-a-d-i-n-h-o o tamanho da nossa desumanidade, tratando nossas vidas como se não importassem. Como vidas menores.
Entende como programar filmes a partir das perspectivas dos “condenados da terra” torna-se um ato para a construção de espaços de potência e pertencimento para pretos frente às imagens em movimento?
“Espaços de pertencimento” não é sinônimo de algo que, num jargão mais apressado de militância internética de 2017, dir-se-ia: trata-se de ocupar todos os espaços. Discordo e são várias as razões. Destaco apenas uma: só quem ocupa terras hostis sabe do peso da bordoada do cacetete que se materializa por meio de um sem número de microagressões, violências simbólicas (e nem tão simbólicas assim). “Temos de ocupar todos os espaços” desconsidera, entre muitas variáveis, os limites internos daqueles que ocupam e, como custo, têm suas vidas re-ocupadas pelo racismo.
VI.
Ainda sobre cura e cuidado.
Entre os círculos pretos temos comentado há alguns anos como é difícil para os nossos realizadores receberem críticas às suas obras. Para além do zelo e do ego, há uma especificidade racial, que é: numa estrutura social racista, na qual um corpo preto não pode cometer erros sob a pena do ônus ser repartido por toda a comunidade, fazer um filme “ruim” e tê-lo reconhecido como tal numa esfera pública de debate dispara o temor de nunca mais fazer um filme ou jamais conseguir ultrapassar um certo patamar de produção.
Ou seja, somos empurrados para operar numa estrita lógica de sobrevivência: adquirir um barraco e garantir que o barraco não seja derrubado. Eternamente aprisionados na primeira página de um livro que, parece, nunca terminaremos de escrever.
E o que tem a curadoria a ver com isso? Penso o seguinte: simultaneamente a essa vocação que estou chamando de “cura” e “cuidado” – parte de um processo no qual uma coletividade preta vendo-pensando-sentindo imagens seria, aí sim, o “novo normal” –, abre-se a possibilidade de um outro exercício, que é: o fim da idealização e a prática contínua de lidarmos frontalmente com as contraditórias imagens que pretos fizeram de pretos.
A desidealização das trajetórias e das obras constitui, penso, a principal métrica para aferir o quanto pertencemos. No dia em que coletivamente nos relacionarmos com as imagens que realizamos tal como Baldwin lida com Filho Nativo em seu ensaio “Many Thousands Gone”, parte do livro Notes of a Native Son, estaremos habitando um novo e adorável planeta.
A curadoria representa, para mim, um reagente insubstituível para a constituição desse planeta.
Dentre outros fatores, estar impossibilitado de programar filmes ou programá-los em circunstâncias que retiram a potência do ato dói demais.
NOTAS
- Conceito investigado pelo filósofo Achille Mbembe, a necropolítica seria, grosso modo, o poder de ditar quem permanece vivo e quais vidas podem ser desperdiçadas. Segundo Mbembe, a soberania, marcador do Estado-Nação moderno, seria o dispositivo que autorizaria essa baliza entre morte-vida. O conceito foi inicialmente elaborado pelo filósofo no artigo “Necropolitics”, publicado em 2003 na revista Public Culture. Em 2019, tornou-se livro e foi lançado no Brasil pela N-1 Edições sob o título de Necropolítica. Para um olhar panorâmico e introdutório acerca de seu trabalho, recomendo a leitura do dossiê organizado pela Cult, disponível no link: <https://revistacult.uol.com.br/home/dossie-leitura-de-achille-mbembe-no-brasil/> Acesso em 2 jul. 2020
- Escrita por Mano Brown, a canção “Capítulo 4, Versículo 3”, terceira faixa do álbum Sobrevivendo no Inferno, resume com precisão o genocídio da juventude negra: “Mas se eu fosse aquele moleque de touca / Que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca / De quebrada sem roupa, você e sua mina / Um, dois, nem me viu, já sumi na neblina / Mas não, permaneço vivo; prossigo a mística / Vinte e sete anos contrariando a estatística”.
- Primeiro ensaio comprometido a delimitar as especificidades da experiência das mulheres negras ao assistirem filmes, “O olhar opositivo: Espectadoras Negras” traça paralelos entre, por um lado, a proibição ao ato de olhar por parte dos escravizados e, por outro, “as possibilidades de agenciamento” contidas nesse ato. hooks propõe que “aprende-se a olhar de determinada maneira a fim de resistir”. Publicado em inglês em 1992 como um dos capítulos de Black Looks: Race and Representation, a primeira publicação impressa em português aconteceu em 2018 quando, a meu pedido e da equipe do Festival de Curtas de Belo Horizonte, ela autorizou que o texto fizesse parte do catálogo do evento. É possível fazer download do arquivo no seguinte link: https://ursodelata.com/2018/08/20/sobre-a-curadoria-da-mostra-cinema-negro-capitulos-de-uma-historia-fragmentada/
- A lista de todos os filmes exibidos, bem como as sinopses e a ordem de exibição, estão disponíveis no link: <https://ursodelata.com/2019/11/08/filme-sobre-colorismo-em-relacionamentos-e-destaque-da-mostra-heroi-negro-amor/>. Acesso em 3 jul. 2020
- Para uma maior compreensão acerca de manifestações de homofobia nos filmes realizados no contexto do Blaxploitation, consultar: AUGUSTO, Heitor. Blaxploitation: Um cinema de revolta. Acrobata: Literatura, audiovisual e outros desequilíbrios, Teresina, vol. 7, p. 22-25, Out. 2017, disponível em: <https://www.academia.edu/43279987/Blaxploitation_um_cinema_de_revolta>. Acesso em 2 jul. 2020
- ARCHER, Ina. Conspiracies and Caretakers: Making Homes for African American Home Movies. World Records Journal, vol. 3, Inverno 2020. Disponível em: <http://vols.worldrecordsjournal.org/03/02>. Acesso em 20 jun. 2020