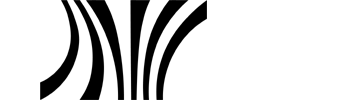A missão em fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa cumpriu temporada no CCSP de 7/4 a 21/5/2017, após estrear na 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp).
Um teatro negro no mundo (notas de uma conversa inacabada)
Por José Fernando Peixoto de Azevedo
O que é que vocês esperavam quando tiraram a mordaça que fechava essas bocas negras? Que elas entoassem hinos de louvação? Que as cabeças que nossos pais curvaram até o chão pela força, quando se erguessem, revelassem adoração nos olhos?
(Sartre, do prefácio para Anthologie de la poésie nègre et malgache.)
1.
Para começar, e se
no meio desta tormenta o Negro conseguir de fato sobreviver àqueles que o inventaram, e se, numa reviravolta de que a História guarda segredo, toda a humanidade subalterna se tornar negra, que riscos acarretaria um tal devir negro do mundo a respeito da universal promessa de liberdade e de igualdade de que o nome Negro terá sido o signo manifesto no decorrer do período moderno? (MBEMBE, 2014, p. 20-21)
Um espectro ronda a Europa – o espectro do Negro. Todas as potências da velha Europa, à sombra do Império, unem-se numa Santa-Aliança para conjurá-lo.
Eu disse que escravo não tem pátria. Não é verdade. A pátria do escravo é a revolta… Pode ser, que meu lugar seja a forca, e talvez a corda esteja crescendo em volta do meu pescoço, enquanto falo com você em vez de te matar, a quem não devo mais nada além da minha faca. Mas a morte não tem significado, e na forca saberei que meus cúmplices são os negros de todas as raças; eu falo para os negros que são negros e para os negros que não são, cujo número cresce a cada minuto que você gasta no seu comedouro de escravos (MÜLLER, 2017, no prelo, grifo nosso)[1]
Negros de todas as raças, uni-vos!
2.
Baseada no texto de Heiner Müller, de 1979, A Missão em fragmentos: doze cenas de descolonização em legítima defesa é, antes de mais nada, uma espécie de contra peça, para usar um termo mülleriano: uma conversa instaurada com/contra o texto original. Em certo sentido, a encenação impõe-se como uma peça de aprendizagem.
Em cena, os performers negros apresentam as regras de um jogo que incluirá a plateia numa “grande discussão”, deslocando para ela – provisoriamente? – o papel do branco, enquanto, na cena, num ringue que se quer também provisório, trata-se de dar um fim ao “teatro branco da revolução”.
Mas numa peça de aprendizagem todos devem ser jogadores, e estes podem jogar todos os papéis. Nas tentativas de Brecht, como em A Medida, o momento do “acordo” era aquele em que uma figura, a partir de sua ação egoísta, colocava em risco a ação coletiva e deveria por isso acordar com a necessidade de sua supressão. Na Missão, o branco Debuisson resiste à sua morte, quer sobreviver, enquanto Sasportas, o negro, morrerá, mesmo quando sua morte já não pode em nada alterar o destino da missão. Na versão Em Legítima Defesa, o rodízio de papeis inclui a plateia num trânsito, e ao fazê-lo, instaura uma conversa com o negro morto, fazendo-nos ouvir sua voz: lançada luz sobre a forca, resta à plateia decidir se jogará também este papel.
Em suas notas de trabalho, Brecht anotava em 1938:
Quando não tive mais o que fazer – com a melhor das boas vontades – com a identificação no teatro, montei o teatro didático para a identificação. Para poder extrair algo de proveitoso da antiga identificação, me pareceu suficiente que as pessoas não se identificassem só espiritualmente. Aliás, nunca esperei nada dos revolucionários que não faziam a revolução porque o solo ardia debaixo de seus pés. (BRECHT, 1995, p. 162)
3.
A pergunta central nessa encenação de Eugênio Lima é precisamente esta: quem narra?[2] Nesse empenho, o “caminho passa pela produção, a partir da crítica do passado, de um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça, da dignidade e do em comum (MBEMBE, 2014, p. 296).
A definição do ponto de vista, sua qualidade composta, sugere o jogo como um meio cujo fim é a produção de uma nova experiência, uma espécie de conteúdo por vir, em produção. Evidentemente a encenação pode fracassar, risco aliás que corremos sempre que bandeiras se convertem em horizontes, querendo ser mais do que são: sintomas. Mas no caso de fracasso, ainda assim este terá resultado de um empenho de superação.
4.
Na peça de Heiner Müller, escrita a partir de motivo colhido da novela A luz sobre a forca, de Anna Seghers, três emissários da Convenção francesa partem para a Jamaica, uma colônia inglesa, com a missão de organizar a revolta dos negros escravizados: um branco, filho de senhor de escravos, Debuisson; um “quase branco”, Galloudec, e o negro Sasportas. A missão fracassa. Em meio às tentativas, são surpreendidos com a notícia da tomada do poder por Napoleão. Calculando não contar com o apoio do “novo regime” para os fins da missão, Debuisson, o branco, trai seus companheiros.
Em cena, no movimento sinistro dessa dialética da colonização, a morte do negro Sasportars é a morte da liberdade; com o “quase branco Galloudec” desfigura-se a fraternidade, enquanto a morte adiada de Debuisson é também o adiamento da igualdade.
A revolução não tem mais pátria, isso não é novidade debaixo desse sol, que talvez jamais iluminará uma nova terra. A escravatura tem muitos rostos, seu último nós ainda não vimos. Nem você, Sasportas. Nós também não, Galloudec. E talvez, o que a gente pensava ser o alvorecer da liberdade, era só a máscara de uma nova escravidão terrível que, comparado a ela, o governo do chicote no Caribe e em outro lugar constitui um simpático antegosto das delícias do paraíso; e talvez a sua amante desconhecida, a liberdade, quando suas máscaras estiverem gastas, não tenha outra cara que não a da traição: o que você não trair hoje, pode te matar amanhã. Do ponto de vista da medicina humanitária a revolução é um natimorto, Sasportas: da Bastilha à Conciergerie, o libertador se transforma em carcereiro. MORTE AOS LIBERTADORES diz a última verdade da revolução.
(…)
E quanto ao assassinato que cometi a serviço da nossa causa: o médico assassino não é um papel novo no teatro da sociedade; a morte não significa tanto para os benfeitores da humanidade: um outro estado químico, até a vitória do deserto toda ruína é um alicerce contra os caninos do tempo. Talvez eu só estivesse lavando as mãos, Sasportas, quando as mergulhei no sangue pela nossa causa; a poesia sempre foi a fala da inutilidade, meu amigo negro. Agora temos outros defuntos na nuca e eles serão a nossa morte, se não jogarmos eles nas covas. Sua morte chama-se liberdade, Sasportas; sua morte chama-se fraternidade, Galloudec, minha morte chama-se igualdade. Uma revolução não tem tempo de contar seus mortos. (MÜLLER, 2017, no prelo)
Como numa chanchada sinistra, a experiência do tempo presente recua no trabalho daquela arqueologia do futuro que é a marca de uma luta encarnada em corpos que se recusam à anulação de sua humanidade. Fazendo eco às vozes atropeladas pelos cavalos de Napoleão, o filho de senhor de escravos habita seu momento de verdade:
E agora estamos precisando do nosso tempo, para dissipar uma revolução negra, que preparamos com tanto cuidado numa missão por um futuro que já virou passado como as outras antes dela. Para os mortos talvez seja diferente, se o pó tiver voz. Pense sobre isso, Sasportas, antes de arriscar o pescoço pela libertação dos escravos num abismo que não tem mais fundo desde essa notícia, que eu vou incorporar agora, para que não reste vestígio do nosso trabalho. (MÜLLER, 2017, no prelo)
5.
O movimento, sempre o do coro, decide: nem drama para negros, nem prólogo para brancos[3]. A cena arma-se como uma luta – de morte – entre pontos de vista. O deslizamento entre eles estabelece uma coralidade própria. A experiência de Eugênio Lima, como performer e diretor musical do grupo de teatro hip hop Núcleo Bartolomeu de Depoimentos marca a poética da cena, mobilizando elementos de linguagem cifrados numa atitude combativa, em que está em jogo, menos um personagem, mas precisamente a produção de um ponto de vista.
A palavra é arma nesse combate, encenação de disputas sem trégua que perfaz o trabalho de produção de sentidos, que é também uma ação em legítima defesa. O nome remete à revista criada em 1932 por estudantes negros advindos das colônias e atuantes na França, que teve apenas um número, mas é marco do Movimento Negritude. Nela, os jovens intelectuais reclamavam o seu papel de portadores das aspirações de liberdade dos povos negros, numa espécie de levante da imaginação. Por outro lado, para o diretor, essa legítima defesa é um
Ato de guerrilha estética que surge da impossibilidade, surge da restrição, surge da necessidade de defender a existência, a vida e a poética. Surge do ato de ter voz. Ser invisibilizado é desaparecer, desaparecer é perder o passado e interditar o futuro, portanto não é uma opção.
Formado por artistas antes engajados no projeto de uma versão brasileira para a instalação Exhibit B., do diretor sul-africano Brett Balley, o coletivo Legítima Defesa se empenha em visibilizar. Talvez refuncionalizando aquele princípio modernista de Klee, segundo o qual, “a arte não reproduz o visível, mas torna visível”.
Na instalação de Balley, corpos negros eram colocados em situação de exposição, reproduzindo cenas de violência infligida a corpos negros, imagens que remetiam ao contexto colonial e pós-colonial, incluindo o ciclo migratório atual. O espetáculo, aqui como em outras cidades do mundo, antes mesmo de sua produção, sofreu fortes reações por parte de movimentos negros. A insuficiência de patrocínios impediu a sua inclusão na programação da terceira edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, em 2016 – o que, se tivesse ocorrido, talvez produzisse uma cena paralela de embates os mais diversos. Mas antes, a negação da instalação, na forma de combativos discursos por parte de movimentos organizados – sem que para tanto se considerasse assistir o espetáculo, confrontar-se com sua materialidade efetiva – colocou uma série de questões em debate. Uma delas, talvez ainda a ser considerada, diz respeito a essa capacidade do teatro de convocar, ainda que o resultado da convocação seja a sua negação.
Uma parte do núcleo de atores então engajados no projeto de Balley convidou o diretor Eugênio Lima e, juntos, realizam intervenções pela cidade, a primeira delas, ainda no contexto da MIT.
A formação desse coletivo se inscreve já num outro estágio da experiência teatral no Brasil, considerada em particular a trajetória do teatro negro entre nós, desde o Teatro Experimental do Negro, o TEN. Trata-se de uma experiência internacional, integrada a uma rede de circulação de formas, economicamente armada. O que importa notar aqui, é que essa internacionalização do teatro, da qual a MIT é apenas um momento, não corresponde a uma superação efetiva das condições precárias de produção local em geral. Certamente algo a se verificar é o equacionamento operado pelo grupo entre meios, materiais e procedimentos, fazendo ver na forma as marcas do processo em que este trabalho se inscreve.
6.
Quando Piscator nomeia o seu teatro um “teatro político”, dando chão à ideia muitas vezes vaga de que todo teatro seja político, o diretor alemão explicita que, ao contrário da experiência da pólis, na metrópole, a cidade está em disputa. Ora, o teatro já não apenas aquele lugar onde o cidadão aporta, suspendendo provisoriamente a ação política, para ver, em cena, uma reflexão sobre ela. O teatro agora confunde-se com a cena, e aquele que aporta na arquibancada muitas vezes está imerso em uma luta por reconhecimento de sua cidadania.
Toda uma coreopolícia abarca o teatro como lugar e momento, inscrito que está num mapa cujas linhas dissimulam as regras da exceção cifrada nas leis de uma mobilidade controlada.
O coletivo Legítima Defesa esboça seu teatro negro a partir de uma consciência da margem. Trata-se de uma consciência coreográfica. De certo modo, teatro negro, aqui, é uma “cena de descolonização” que sugere que a experiência de colônia, hoje, é a margem, resultado de uma periferização de formas de vida em toda parte. Com efeito, a periferia é uma experiência territorial, sem dúvida, resultado de uma sempre adiada partilha – da cidade e de seus meios. Mas é também o resultado de uma exclusão no campo da linguagem: uma exclusão, e esse é o ponto, ainda mais efetiva, porque resulta de um silenciamento real, por supressão física de corpos – desde interditos até o extermínio. Frantz Fanon trouxe à tona duas dimensões desse processo, uma clínica e outra política. A violência que daí emerge não imita a violência do colonizador.
Tanto é a manifestação clínica de uma “doença” de natureza política como uma prática de ressimbolização, na qual está em jogo a reciprocidade e, portanto, uma relativa igualdade perante a arbitrariedade suprema que é a morte. Deste modo, através da violência escolhida mais do que sofrida, o colonizado protagoniza uma reviravolta sobre si próprio. Descobre que “a sua vida, a sua respiração, os batimentos do seu coração são os mesmo do colono” ou, ainda, que “a pele de colono não vale tanto como uma pele de indígena”. Fazendo isto, ele recompensa-se, requalifica-se e reaprende a valorizar o peso da sua vida e as formas da sua presença no seu corpo, na sua palavra, no Outro e no mundo. (MBEMBE, 2014, p. 273)
Na cena do Legítima Defesa, o corpo resiste sob uma pressão, e essa resistência move-se na forma de uma dança em constante revolta. Imaginação de uma corepolítica, a esboçar encontros e coros provisórios.
Como insiste André Lepecki, a partir de sua leitura da oposição feita por Rancière entre “polícia” e “política”[4],
Coreografia não deve ser entendida como imagem, alegoria ou metáfora da política e do social. Ela é, antes de tudo, a matéria primeira, o conceito que nomeia a matriz expressiva da função política – (…) “a disposição e a manipulação de corpos uns em relação aos outros”.
(…)
Coconstitutivas uma da outra, poderiam dança (ou ação política imaterial) e cidade (fazer legislativo-arquitetônico material) encontrar-se e renovar-se numa nova política do chão, numa coreopolítica nova em que se possa agir algo mais do que o espetáculo fútil de uma frenética e eterna agitação urbana, espetáculo esse que não é mais do que uma cansativa performance sem fim de uma espécie de passividade hiperativa, poluente e violenta que faz o urbano se representar ao mundo como avatar do contemporâneo? (LEPECKI, 2011, p. 46-49)
7.
Em sua autobiografia, Guerra sem batalha: uma vida entre duas ditaduras, Heiner Müler retoma os motivos do texto de A missão, e fixa a referência à emblemática cena do elevador: um funcionário que ascende por uma paisagem na direção de seu chefe, o “número 1”.
A segunda parte do texto do elevador na peça é o protocolo de um sonho, o sonho resultante de uma caminhada noturna de uma aldeia afastada até uma rodovia principal em direção a Cidade do México, passando por um caminho rural entre campos de cactáceas, sem lua, nenhum táxi. Às vezes surgiam vultos como nos quadros de Goya, passavam por nós, algumas vezes com lanternas de pulha, também com velas. Uma viagem do medo pelo Terceiro Mundo. A outra experiência recuperada no texto foi minha ida até Honecker, no edifício do Comitê Central, a subida com o elevador contínuo. Em cada andar estava sentado diante do elevador um soldado com um fuzil-metralhador. O edifício do Comitê Central era uma ala de segurança máxima para os prisioneiros do poder. (MÜLLER, 1977, p. 271-218)
A violência do sonho, para o autor, é uma linguagem cujos “contrastes criam velocidade”; no caso, momento em que o romance policial é invadido pela tragédia clássica. Na língua cifrada de Müller, a justaposição compõe a paisagem, trânsito entre temporalidades que revela, antes de mais nada, a sua convivência, sem perspectiva de superação das diferenças: a vida sonhada de uma paisagem periférica e a vida real do regime – dois momentos de um transe histórico.
Na encenação, a cena converte-se numa discussão sobre protagonismo, sua relativização como perspectiva de luta, estabelecendo uma oposição entre sucesso e superação num mundo composto majoritariamente por “sujeitos monetários desprovidos de dinheiro”[5].
A “nova razão do mundo”[6], o neoliberalismo e a fabricação de seus sujeitos:
Por neoliberalismo entenda-se uma fase da história da Humanidade dominada pelas indústrias do silício e pelas tecnologias digitais. O neoliberalismo é a época ao longo da qual o tempo (curto) se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma-dinheiro. Tendo o capital atingido o seu ponto de fuga máximo, desencadeou-se um movimento de escalada. O neoliberalismo baseia-se na visão segundo a qual “todos os acontecimentos e todas as situações do mundo vivo (podem) deter um valor no mercado”. Este movimento caracteriza-se também pela produção da indiferença, a codificação paranoica da vida social em normas, categorias e números, assim como por diversas operações de abstração que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais. Assombrado por um seu duplo funesto, o capital, designadamente o financeiro, define-se agora como ilimitado, tanto do ponto de vista dos seus fins como dos seus meios. Já não dita apenas o seu próprio regime de tempo. Uma vez que se encarregou da “fabricação de todas as relações de filiação”, procura multiplicar-se “por si mesmo” numa infinita série de dívidas estruturalmente insolúveis.
Já não há trabalhadores propriamente ditos. Já só existem nômades do trabalho. Se, ontem, o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, hoje, a tragédia da multidão é não poder já ser explorada de todo, é ser objeto de humilhação numa humanidade supérflua, entregue ao abandono, que já nem é útil ao funcionamento do capital. (MBEMBE, 2014, 13-14)
8.
Nos anos 1970, o dramaturgo brasileiro Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha, intuía o movimento necessário para compreensão poética de nossa condição periférica. Tratava-se, para ele, de olhar no olho da tragédia – na linguagem do tempo, o nosso subdesenvolvimento. Antes, com sua “estética da fome”, mais tarde transtornada em “estética da violência” e “estética do sonho”, Glauber Rocha elaborou não apenas perspectivas de enquadramento dessa condição, mas situou a produção artística brasileira – em particular o cinema – no quadro de um sistema mundial de produção de formas.
A ideia de um teatro negro hoje abarca aquele devir negro do mundo, sugerido por Achille Mbembe, estágio conflagrado de um processo de desumanização programada. A fórmula ultimamente retomada, segundo a qual o negro é uma invenção do capitalismo, desconsidera a evidência de que o negro é, depois disso, sujeito de uma posição no mundo. A palavra Negro não designa apenas a vítima, mas também aquele que se converteu em sujeito de luta, forma
radical de uma consciência em expansão. Antes reificada num processo de destituição dos corpos e das almas, essa consciência projeta-se no tempo, agora, usando a memória contra a história.
O crime de pensamento em que se converteu a grande parte da filosofia moderna, esse discurso da liberdade produzido ao custo do sangue da colônia, revela agora a sua verdadeira dialética do esclarecimento. Mudar o sujeito da cena, mudar o sujeito da leitura – eis o que certamente produz outros sujeitos: e se o escravo da dialética do senhor e do escravo hegeliana for o negro da Revolução Haitiana?[7]
A escravidão, núcleo estruturante de nossa sociedade, essa tecnologia – a mais avançada – a serviço do progresso burguês, não é um arcaísmo, mas a expressão mais crua do moderno. Não se trata de negar os vínculos que certa versão da modernidade quis estabelecer com um projeto de humanidade inteiramente realizada; mas antes, constatar que esse projeto não se realizou. E que talvez uma outra humanidade possa desse inferno emergir. Uma luta, sem dúvida, contra essa religião de um deus cego, chamada capitalismo.
9.
O Negro já não é um tema. Com essa palavra interroga-se sobre o estágio atual do capitalismo em sua luta contra um outro, refugiado de seu horizonte, que se move no entanto como o Anjo da História de Walter Benjamin: empurrado pela tempestade do progresso, de costas para suas promessas já desmentidas de felicidade. O teatro negro é então a experiência de comunidades provisórias imaginadas[8], espaço e tempo de uma nova produtividade. No confronto com os materiais, a mimesis que a sustenta não aporta na oposição falaciosa entre documento e ficção, mas numa aposta outra, face à imaginação como força produtiva. Se o teatro é esse trabalho de dar voz e corpo aos mortos, é porque os mortos ainda têm segredos a nos contar. O Negro, antes aquele ser-capturado-pelos-outros, é agora o sujeito da cena. A cena converte-se num inusitado espelho: no espelho do teatro negro, deverá emergir uma imagem do branco. E sem white face.
É verdade que o mundo é antes de mais uma forma de relação consigo mesmo. Mas não há nenhuma relação consigo mesmo que não passe pela relação com o Outro. O outro mais não é do que a diferença e o semelhante reunidos. O que teremos de imaginar será uma política do ser humano que seja, fundamentalmente, uma política do semelhante, mas num contexto onde, é verdade, o que partilhamos em conjunto sejam as diferenças. E são elas que precisamos, paradoxalmente, de por em comum. Tudo isso passa pela reparação, isto é, por uma ampla concepção da justiça e da responsabilidade. (MBEMBE, 2014, p. 297, grifo nosso)
* Artigo publicado originalmente no catálogo da Mostra Internacional de Teatro de são Paulo (MITsp) – Março de 2017.
Notas
[1] As citações do texto da peça de Heiner Müller são feitas a partir da tradução – no prelo – de Christine Röhrig, adaptada para a encenação.
[2] A pergunta sem dúvida se impõe, tanto mais que se queira ver o político para além dos temas. Trata-se de uma relação, e no caso do teatro negro, trata-se ainda de avançar para além do negro como tema, indo às relações de produção e às formas de sedimentação de sua presença e de sua imagem. Foi isso o que pude compreender escrevendo e dirigindo peças para Os Crespos (Ensaio sobre Carolina, Além do Ponto; Cartas a Madame Satã), e com a experiência recente do Teatro de Narradores, quando escrevi e dirigi Cidade Vodu (uma coprodução MIT-2016), a partir da experiência de grupos de haitianos, em sua trajetória até o Brasil, alguns dos quais participaram do processo e estiveram em cena.
[3] Cf. Abdias Nascimento, Dramas para negros e prólogo para brancos: antologia de teatro negro brasileiro, Rio de Janeiro: TEN, 1962.
[4] Cf. Entre o dado e a invenção, Jacques Rancière elabora duas visões sobre a política, e o plano ainda possível do dissenso como cerne da invenção política. Cf. O desentendimento, São Paulo: Editora 34, 1996.
[5] Cf. Roberto Schwarz, “O livro audacioso de Robert Kurz”, in: Sequências brasileiras: ensaios, São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
[6] Cf, o livro de Pierre Dardot Christian Laval, A nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, São Paulo: Boitempo, 2016.
[7] Susan Buck-Mors, “Hegel e Haiti”, in: Novos Estudos – Cebrap, número 90, São Paulo, 2011.
[8] Questão que abarca ainda a capacidade dessa produção produzir alianças, alianças de classes, sem dúvida, mas também, de instaurar uma relação efetiva com o negro em seus grupos e comunidades, um “público negro”, talvez.
Bibliografia básica
BRECHT, Bertolt. Diários de 1920 a 1922: anotações autobiográficas de 1920 a 1964. Organizado por Herta Ramthun. Tradução de Reinaldo Guarany. Porto Alegre: LP&M, 1995.
LEPECKI, André. “Coreopolítica e coreopolícia”. Revista Ilha, volume 13, número 1. 2011, páginas 41-60.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa: 2014.
MÜLLER, Heiner. Guerra sem batalha: uma vida entre duas ditaduras. Tradução de Karola Zimber. São Paulo: Estação Liberdade, 1997.
MÜLLER. Heiner.A Missão.Tradução de Christine Röhrig. No prelo.
Um discurso negro (des)colonizado – Por Miguel Arcanjo Prado
Quem viu a performance Em Legítima Defesa na inesquecível noite de 4 de março de 2016 sabe exatamente qual foi o impacto provocado sobre o público que estava na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo. Os espectadores haviam acabado de assistir ao intimista recital Revolting Music – Inventário das Canções de Protesto que Libertaram a África do Sul, do músico sul-africano Neo Muyanga, e estavam ainda sensibilizados pelas músicas que falavam da dor do Apartheid, regime racista separatista de Estado que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994, quando viram os corredores do teatro serem arrebatados por um grupo potente de artistas negros ao som dos versos “A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras”, de Capítulo 4, Versículo 3 do grupo Racionais MC’s.
O som ensurdecedor de bombas e aquela visão arrebatadora, praticamente um levante negro, paralisou a plateia. Tratava-se, sem sombra de dúvidas, de um enfrentamento. Logo, aqueles artistas negros deram início a um discurso que desvelou o racismo institucionalizado na sociedade brasileira, presente inclusive nos campos ditos progressistas da cultura e também naquela plateia na qual negros podiam ser contados nos dedos da mão.
Questionaram não só a morte de negros pelo Estado, como também sua ausência nos palcos e nas plateias de teatro, e a indiferença de muitos brancos para a questão negra. Ao fim, de punhos cerrados, os atores se posicionaram ao fundo do teatro, muitos com lágrimas escorrendo pela face, e uma expressão de dignidade e dor ao mesmo tempo, no que foram seguidos pelos poucos negros presentes na plateia e raros brancos, naquela que foi uma das performances mais impactantes da história do teatro brasileiro recente.
Se na MITsp 2016 aqueles negros brasileiros ocuparam os corredores em protesto, nesta edição de 2017 parte deles conseguiu conquistar o palco nobre do Auditório Ibirapuera e a programação oficial de espetáculos legitimada pela curadoria. Ainda sob direção de Eugênio Lima, o mesmo da performance Em Legítima Defesa, apresentam a peça A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa.
Para quem viu a potente performance-protesto do ano passado, a sensação é de susto e desconforto. Sobretudo porque há um gritante descompasso entre forma e conteúdo na questão apresentada, que agora surge dilatada, embalada por uma suposta ideia de sofisticação europeia teatral e bem menos potente. O discurso, antes de confronto misturado a um pedido de socorro, agora está mais condescendente. Um letreiro ao fundo do palco diz o tempo inteiro a seguinte falácia: “Somxs todxs negrxs”. Não, não somos. E o racismo só começa a ser combatido de fato quando enxergamos as diferenças que existem entre negros e brancos em nossa sociedade e passarmos a nos respeitar uns aos outros de forma equânime em oportunidades e tratamentos, o que está longe de acontecer.
A peça traz no título a palavra “descolonização” e utiliza em sua forma justamente as premissas do teatro pós-dramático europeu, seguindo à risca a cartilha do alemão Hans Thies Lehman. Também parte de uma base alemã para construir sua fragmentada dramaturgia, inspirada em A Missão – Lembranças de Uma Revolução, de Heiner Müller. Isso sem falar na gritante ausência da percussão na banda, em detrimento da guitarra, do sopro e do piano de cauda.
Em um país no qual o movimento negro está em ebulição, buscando justamente criar seus próprios discursos e referências e que dialogue diretamente com suas especificidades, chama atenção o fato de o espetáculo tentar reproduzir uma forma estética legitimada pela cultura europeia, que a própria peça critica nominalmente, o que gera um confronto entre forma e conteúdo. Por que, para falar de negritude, é preciso ir a uma revolta de escravos na Jamaica contada pelo alemão e branco Heiner Müller? Não há no Brasil e na intelectualidade negra contemporânea brasileira possibilidades de criação dramatúrgica que falem das questões intrínsecas ao negro no país?
Sobretudo, porque a cidade de São Paulo, assim como o Brasil, vive uma ebulição das questões negras. Basta, por exemplo, frequentar lugares como a Aparelha Luzia, centro cultural negro paulistano, ou ver espetáculos de grupos como Os Crespos e Coletivo Negro, para começar a entender a magnitude da questão negra no Brasil contemporâneo, que busca fugir justamente da ingerência de premissas brancas colonizadoras.
O mesmo sul-africano Neo Muyanga que viu sua plateia ser tomada pelos artistas negros em 2016 e buscava com o intérprete da produção entender o que estava acontecendo, agora está ali no palco em A Missão, como apenas mais um músico, tão pouco aproveitado, desperdiçando um rico diálogo entre o racismo na África do Sul e o do Brasil.
A sensação ao término da peça é de atordoamento diante da cooptação. Se em 2016 o discurso era potente justamente por reivindicar um lugar de fala para o negro brasileiro na programação da MITsp, um ano depois, quando este espaço é conquistado, o espetáculo não assume em primeira pessoa a efervescente questão negra brasileira. Opta por referências estrangeiras, distantes e até brancas, como se para justificar sua presença em cena isso fosse necessário. É uma pena ver desperdiçado um espaço tão significativo e que poderia ter sido lugar de empoderamento e de discussão da urgente questão da negritude no Brasil.
* Crítica publicada originalmente no site da 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp) – 18 de Março de 2017
MITsp: Teatro, racismo e lugares de fala – Por Helô D’Angelo
Os diretores Antônio Araújo e José Fernando Peixoto de Azevedo discutem representatividade nas peças ‘Branco’ e ‘A missão em fragmentos’
Apresentada pela primeira vez na 4º edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), em março deste ano, a peça Branco: o cheiro do lírio e do formol, em cartaz no Centro Cultural São Paulo, é polêmica só pelo assunto de que trata: “o lugar de privilégio que o branco ocupa em uma sociedade racista como a brasileira”, segundo o autor e diretor Alexandre Dal Farra. A falta de atores negros no elenco, entretanto, foi encarada por parte do público e da crítica como um ato racista por si só.
O texto provocou debate entre curadores, diretores e público de teatro: branquitude e racismo deveriam ser assuntos proibidos a brancos em suas produções culturais? Ou o contrário – deveriam ser ainda mais explorados? Para Antônio Araújo, diretor do Teatro da Vertigem e um dos idealizadores da MITsp, a questão é mais complexa: “Assisti ao espetáculo [Branco] na estreia na MITsp e não o vi como um trabalho racista justamente porque a peça tinha uma carga grande de autocrítica por parte dos artistas brancos; uma autocrítica ao seu racismo naturalizado e muitas vezes não percebido como tal”.
O diretor de teatro e professor José Fernando Peixoto de Azevedo vai mais fundo. Para ele, a crítica citada por Araújo à branquitude só pode ser feita por brancos quando, por um momento que seja, eles se colocam no lugar do negro, reconhecendo os próprios privilégios. Para o diretor, isso é difícil, mas possível: “É uma linha tênue entre a auto-expiação e o reconhecimento de privilégios. Por isso, às vezes é mais fácil dizer que a produção que tenta fazer essa crítica é racista”.
Para explicar melhor, Peixoto cita como exemplo as peças do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que trazem outra luta importante, a de classes: “Quando Brecht coloca um capitalista em cena sofrendo, falando sobre seus sentimentos de forma exacerbada, ele constrói isso de tal modo que o cinismo da situação acaba denunciando que o ponto de vista do autor não é o do capitalista. Aquilo fica escancarado. É o mesmo com Branco: se a crítica atingir esse ponto e sair do raso da mea culpa, então é uma boa crítica”.
Autor branco em releitura negra
Ainda na MITsp, a peça A missão em fragmentos: 12 cenas em legítima defesa, do grupo Legítima Defesa, também cutucou os espectadores. Ao trazer apenas atores negros ao palco, a produção vai na contramão de Branco, ainda que também trate da temática do racismo – dessa vez apenas do ponto de vista de pessoas negras. As duas peças, no entanto, unem-se por uma questão semelhante: o lugar de fala. No caso de A missão, por se tratar de um texto original do dramaturgo alemão Heiner Müller, um homem branco.
“Dizer que eu não posso usar o texto de um branco porque eu sou negro é uma falácia. Vivemos em um país em que a escravidão acabou há pouco mais de cem anos. Então eu só poderia usar textos escritos por negros e deveria ignorar toda a produção branca? Isso é interditar o debate sobre racismo”. E arremata: “Eu tenho o direito de usar a obra que eu quiser e trabalhar sobre ela o quanto eu quiser. Eu ser negro não muda isso”, afirma Peixoto.
Araújo concorda. Para ele, o fato de o autor ser branco não impede a releitura e a reapropriação de sua obra em outro contexto: “Acho Müller um dos autores de teatro mais politicamente consistentes que existem. E mesmo com todas suas limitações de um lugar de fala branco e europeu, acho que o grupo de A missão conseguiu fazer mais do que uma releitura do texto original: eles o devoraram e incorporaram questões do nosso passado escravagista e de um Brasil atual ainda sistemicamente racista e segregacionista. Heiner Müller se tornou uma espécie de Bispo Sardinha na ação-reparação-deglutição desse quilombo cênico instaurado pelo Legítima Defesa”.
Em seu perfil no Facebook, Kil Abreu, curador do Centro Cultural São Paulo, rebateu as críticas, dizendo que o papel das duas peças é justamente incomodar e fazer a plateia se questionar sobre as próprias práticas: “Os dois espetáculos não estão pautados no mesmo momento em função de uma difusa tentativa de dar voz a negros e a brancos, diante de uma determinada questão, como se estes grupos estivessem disputando a hegemonia das narrativas em torno do racismo. Isto seria perverso como projeto curatorial”.
Para Peixoto, a questão é muito simples. “O teatro começa com os gregos falando do outro. O teatro é a história do outro. Então, sem o outro, não há teatro”.
* Artigo publicado originalmente no blog da Revista Cult – 11 de Abril de 2017
Todos somos negros – Por Eugênio Lima
(E se X1 também for Malcolm X?)
Malcolm X sobre a sua própria morte:
“Quando acordo pela manhã, vejo o novo dia como um presente do céu. Independente da cidade em que estou e o que eu faço ali, eu fico observando continuamente as pessoas negras, que observam todos os meus movimentos e ficam esperando a oportunidade de me matar. Eu já falei o suficiente e abertamente que eu sabia que eles tinham ordens. Para os caçadores de homens eu digo: A selva não camufla só os caçadores, mas também os caçadores de caçadores.
Eu sei que posso ser assassinado por racistas brancos ou por negros, que foram corrompidos pelos homens brancos. Também imagino que eu posso ser assassinado por algum negro enganado, que me mate porque acha que assim vai ajudar o homem branco que eu desgraço. Em poucas palavras, eu vivo como se já estivesse morto e por isso, eu quero manifestar aqui meu último desejo.
Prestem atenção, quando eu estiver morto – e falo isso porque pude receber todos os sinais possíveis de que não irei presenciar o lançamento deste livro – vejam se eu não tinha razão com a seguinte afirmação: O homem branco vai me usar, também depois da minha morte, como um símbolo de ódio. Ele vai me explorar como um símbolo de ódio, como ele já fez quando eu ainda estava vivo – e ele vai fugir de novo da realidade.
Eu, na verdade, só coloquei o espelho na sua frente, no qual ele viu os crimes indescritíveis que sua raça cometeu à minha raça. No melhor cenário possível, eles me chamarão de “irresponsável“. Nesse caso, eu sempre acreditei que um líder negro que é chamado pelos homens brancos de “responsável“ nunca conseguirá nada. Um homem negro só conseguirá algo quando os homens brancos o chamarem de “irresponsável“. Isso eu já entendi quando era um garotinho. Depois que eu cresci e me tornei um líder dos negros na sociedade racista norte-americana, os ataques dos homens brancos, cada recriminação, me satisfizeram profundamente, porque, dessa maneira, eu ganhei confirmação de que eu estou, como um advogado dos negros, no caminho certo.
As recriminações dos racistas brancos me revelaram, em todos os casos, que eu dei algo bom aos negros. Sim, eu gostei da minha função de “demagogo“. Eu sei que a sociedade, já muitas vezes, matou aqueles que contribuíram na sua transformação.
E se eu puder, com a minha morte, iluminar a escuridão, se eu puder esclarecer uma verdade que vai eliminar o câncer do ódio das raças, que envenena o corpo americano, o agradecimento disso será para Allah. Somente os meus próprios erros, que eu fiz no caminho, são meus.”
(Malcolm X e Alex Haley: Autobiografia de Malcolm X)
- E se?
“No meio desta tormenta o Negro conseguir de fato sobreviver àqueles que o inventaram, e se, numa reviravolta de que a História guarda segredo, toda a humanidade subalterna se tornar negra, que riscos acarretaria um tal devir negro do mundo a respeito da universal promessa de liberdade e de igualdade de que o nome Negro terá sido o signo manifesto no decorrer do período moderno?”
(Achilles MBEMBE: Crítica da Razão Negra)
- E se?
O medo Branco, for o medo da volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar? Se assim for? Quem tem medo Planeta Negro?
Fear of a Black Planet (MEDO DO PLANETA NEGRO) é o terceiro álbum de estúdio do grupo de rap estadunidense Public Enemy, lançado em 1990. Ele está na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone. A faixa Fight the Power, a mais conhecida do álbum, está presente também na trilha sonora do filme Faça a coisa certa do diretor Spike Lee, lançado em 1989.
- E se?
Se você ao se considerar um negro pra negro será MANO?
Eu tenho algo a dizer E explicar pra você Mas não garanto porém Que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui Para os manos de lá Se você se considera um negro Pra negro será MANO!!! Sei que problemas você tem demais E nem na rua não te deixam na sua Entre madames fodidas e os racistas fardados De cérebro atrofiado não te deixam em paz Todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais Você concorda… Se acomoda então, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda Prefere não se envolver Finge não ser você E eu pergunto por que? Você prefere que o outro vá se foder.
(Racionais Mc’s: Voz Ativa)
- E se?
Consciência Negra for…
“Em nosso manifesto político definimos os negros como aqueles que, por lei ou tradição, são discriminados política, econômica e socialmente como um grupo na sociedade sul-africana e que se identificam como uma unidade na luta pela realização de suas aspirações. Tal definição manifesta para nós alguns pontos:
- A) Ser negro não é uma questão de pigmentação, mas o reflexo de uma atitude mental;
- B) Pela mera descrição de si mesmo como negro, já se começa a trilhar o caminho rumo à emancipação, já se está comprometido com a luta contra todas as forças que procuram usar a negritude como um rótulo que determina a subserviência.
Os negros – os negros verdadeiros – são o que conseguem manter a cabeça erguida em desafio, em vez de entregar voluntariamente a alma ao branco. Assim, numa breve definição, a Consciência Negra é em essência a percepção pelo homem negro da necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno da causa de sua atuação – a negritude de sua pele – e de agir como um grupo, a fim de se libertarem das correntes que os prendem a uma servidão perpétua. Procura provar que é mentira considerar o negro uma aberração do “normal”, que é ser branco, a Consciência Negra. Procura infundir na comunidade negra um novo orgulho de si mesma, de seus esforços, seus sistemas de valores, sua cultura, sua religião e sua maneira de viver a vida.
A inter-relação entre a consciência do ser e o programa de emancipação é de importância primordial. A libertação tem importância básica no conceito de Consciência Negra, pois não podemos ter consciência do que somos e ao mesmo tempo permanecermos em cativeiro. Queremos atingir o ser almejado, um ser livre.”
(Steve BIKO: Eu escrevo o que eu quero)
- E se?
Negrxs, Negritude, Negrura, for uma porta para uma outra Humanidade possível…
“A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo… Ou tarde demais.
Não venho armado de verdades decisivas.
Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda a serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas.
Essas coisas, vou dizê-las, não gritá-las. Pois há muito tempo que o grito não faz mais parte de minha vida.
Faz tanto tempo…
Por que escrever esta obra? Ninguém a solicitou.
E muito menos aqueles a quem ela se destina.
E então? Então, calmamente, respondo que há imbecis demais neste mundo. E já que o digo, vou tentar prová-lo. Em direção a um novo humanismo…
À compreensão dos homens…”
(Frantz Fanon: Pele negra, Máscaras Brancas)
- E se?
Estes forem os Europeus da peça (isto é ironia): Angela Davis, Sojourner Truth, Malcom X, Amílcar Cabral, Chimamanda Ngozi Adichie, Aimé Cesarie, Achille Mbembe, Racionais Mc’s, NWA, Frantz Fannon, Marcus Garvey, Maurinete Lima, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Frances M. Beal, James Baldwin, Stokely Carmichael, Carolina Maria de Jesus, MV Bill, Karol Conka, Miles Davis, Pixinguinha, Bob Marley, Colonia Daz, Buraka Som Sistema, Da Leste, ‘Negro Prision Songs’ , ‘Toiy Toiy’ , Youssou N’Dour, Spike Lee, Branford Marsalis, Povo Dogon, Neo Muyanga e Legítima Defesa.
- E se?
Sempre for Em Legítima Defesa…
Sobre a Pantera Negra.
“A pantera negra é um animal preto e bonito, que representa a força e a dignidade do povo negro; um animal que não ataca até ter sido apanhado, estar sem saída e a não ter outra solução a não ser pular para frente. E quando pula, não há nada que a pode parar.”
(Stokely CARMICHAEL: palestra na Universidade de Berkeley- CA, 1966)
- E se?
E se? O Essencialismo for centro da desumanização?
Todo essencialismo é fruto da mentalidade colonizadora, foi ele, o colonizador, que interditou a humanidade de todxs no mundo vivo.
Colonialismo é Nazismo, já dizia Aimé Cesarie.
E em 2017 ainda estamos envoltos nisso, o colonialismo é uma realidade e o racismo é estrutural e estruturante.
Ninguém foge da história e como disse Sasportas: “Nossa escola é o tempo, ele não volta atrás e não há fôlego para a didática, quem não aprende também morre.”
De resto, lamento que ainda existam pessoas que imaginam possuir a autoridade de definir quem é o Negro(a) Legítimo(a) e de como deve ser a Negritude de cada um. Existem Negrxs em quase todos os países do mundo.
Ser negrx extrapola os limites de tempo, clima ou nacionalidade.
A Diáspora Negra é um olhar sobre o futuro:
“Como uma alternativa à metafísica da “raça”, da nação, e de uma cultura territorial fechada, codificada no corpo, a diáspora é um conceito que ativamente perturba a mecânica cultural e histórica do pertencimento. Uma vez que a simples sequência dos laços explicativos entre lugar, posição e consciência é rompida, o poder fundamental do território para determinar a identidade pode também ser rompido.”
(Paul GILROY: O Atlântico Negro)
Brasil é um país.
África é um continente.
E todos os seu estados nacionais carregam a geografia colonial, bem como nas Américas, não existe país que não carregue a marca do sistema escravocrata.
Para mudar a narrativa é preciso ter Voz.
É preciso escuta.
É preciso que as vozes que já existem falem e sejam escutadas.
A Coralidade é a voz coletiva.
Só para lembrar a África do Sul é chamada de o País da Voz, pelos seus Corais Polifônicos. Várias vozes são necessárias para desconstruir o legado escravocrata/colonialista.
Múltiplas vozes são fundamentais para imaginar e construir outro legado: Um legado de liberdade. No palco/território da Missão: TODXS SOMOS NEGRXS.
E na platéia? Quem somos? Somos?
No mais…
Deixem que digam Que pensem Que falem
O Bando nômade segue.
* Texto inspirado no Teatro Negro do Mundo, de José Fernando Peixoto de Azevedo, publicado no programa da temporada do espetáculo no CCSP – Abril de 2017
Quilombos Abertos – Por Daniel Toledo
Além de terem servido como refúgios e pontos de resistência contra a escravidão que, por mais de três séculos, com amparo da lei, vigorou em território brasileiro, os muitos quilombos criados ao longo de toda nossa história colonial tinham e seguem tendo como importantes funções resgatar a cosmovisão africana, assim como os laços familiares frequentemente perdidos durante o processo de escravização da população negra. Pois parece ser a um quilombo reinventado e extremamente contemporâneo que vemos pela fresta das cortinas do teatro, enquanto nos acomodamos para assistir ao espetáculo A missão em fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa, realizado pelo grupo Legítima Defesa.
Pela fresta da cortina, assistimos a um corpo coletivo que continuamente se move, sem sinais de exaustão, rumo a uma missão que, veremos mais adiante, também se constitui como causa essencialmente coletiva. Respiração consciente e pulso constante atestam a vida e a vitalidade dos corpos negros que vemos ali, os quais transitam com segurança e liberdade entre diferentes registros de atuação e presença, compondo, camada por camada, um espetáculo com ares de sarau que se propõe a visitar crítica e propositivamente a peça teatral A Missão, escrita em 1979 pelo dramaturgo alemão Heiner Müller.
Trazendo como contexto histórico a experiência colonial jamaicana, tanto a peça de Müller quanto a montagem do grupo Legítima Defesa rapidamente nos sugerem paralelos com a história brasileira, ao tratar de uma negritude que se constitui em condição de subalternidade, longe das fronteiras do continente africano e sob a tutela legal de impérios europeus. Seja no Brasil ou na Jamaica, ocupamos todos lugares de subalternidade dentro de um sistema-mundo colonial fundado no século XVI, justamente a partir da invasão da América pelos impérios da Península Ibérica.
É a partir de uma composição entre múltiplas linguagens artísticas, no entanto, que temos acesso à obra de Müller e às perspectivas do coletivo sobre essa mesma narrativa, ali entreposta a canções, coreografias, relatos documentais dos atores e citações de importantes e diversificados nomes da resistência negra ante o contexto colonial, tais quais o político guineense Amílcar Cabral, a intelectual e ativista estadunidense Angela Davis e a escritora brasileira Carolina Maria de Jesus.
Diante de um jogo cênico de regras bem marcadas, no qual diferentes atores e atrizes se alternam na interpretação dos três personagens que conduzem a trama, vemos reforçada a dimensão coletiva das vozes que testemunhamos em cena. No melhor estilo microfone aberto, diferentes vozes ocupam o palco. Se o rap muitas vezes dá forma à narrativa e às vozes que a integram, também há espaço para outras expressividades musicais e visuais da cultura negra, deixando evidente que a condição de subalternidade e permanente necessidade de resistência muitas vezes, ainda que contraditoriamente, serviu – e ainda serve – como estímulo ao desenvolvimento de culturas híbridas, complexas e, pelos mais diversos caminhos, conectadas à própria ancestralidade e à noção de coletividade.
Enquanto acompanhamos os desdobramentos da possível revolução jamaicana, somos convidados também a rever outras revoluções. Ao apresentar-nos o “Teatro da Revolução Branca”, a montagem chama atenção aos limites da Revolução Francesa e de outras tantas que, sobretudo ao longo da história moderna, jamais alteraram substancialmente a ordem colonial que organiza boa parte do mundo em que vivemos. Conforme atesta a literatura decolonial e a própria realidade social que experimentamos no Brasil, não existe uma humanidade moderna sem uma sub-humanidade moderna.
Aos poucos percebemos, no entanto, que, ao contrário do que se poderia pensar, uma efetiva revolução não pode se dar pelo consumo, pela ascensão social ou mera inserção em um sistema colonial pré-definido, mas, certamente, na reinvenção desse sistema. Percebemos que a revolução pode se dar pelo acesso ao conhecimento, à ancestralidade, à capacidade crítica e à construção de novas narrativas. Pode se dar, quem sabe, pela capacidade de se “aquilombar”, de se organizar como força coletiva, criativa e propositiva de resistência e reexistência. Parece ser a partir do quilombo e de sua racionalidade, então, que talvez possamos alcançar, efetivamente, os prometidos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
Enquanto o patrimonialismo exacerbado da sociedade brasileira parece impedir que tais valores se concretizem para além das fronteiras dos quilombos, a lógica interna desses espaços, hoje desdobrados em outros, parece ser diferente. Apesar de a ancestralidade africana predominar na maioria dos quilombos, alguns estudos genéticos têm revelado haver ali também elementos de origem europeia e indígena, mostrando a histórica capacidade de integração e solidariedade do povo negro.
Como sul-americanos, legítimos integrantes do sul-global, talvez devêssemos todos nos aquilombar. Pois parece haver, nesse e em outros quilombos, espaço para negros que são negros e negros que não necessariamente o são. E talvez o que nos una seja o desejo de efetiva mudança. Por isso levemos essa carta aonde formos, e passemos a palavra adiante.
* Crítica publicada originalmente no site da 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp) – 18 de Março de 2017 e posteriormente no programa da temporada do espetáculo no CCSP – Abril de 2017
Legítima Certeza – Por Marcio Tito
Eugênio Lima, o encenador de fissuras entre o bangue da forma e o rolê do conteúdo.
O sociólogo Milton Santos definiu o espaço como uma acumulação de tempos. O coletivo Legítima Defesa, notando o espaço do teatro como solo fértil para eclodir este pensamento em forma de ação cênica, parece organizar sua tese através deste eixo.
Em cena o coletivo produz um tipo de síntese histórica que procura caber ( e não caber ) no palco. Os furos na forma e as rupturas por onde escapa o ar da montagem, ainda que possam deixar a obra em estado de alerta, pois o todo parece ensaiar sair do controle estético, ainda assim, parecem intencionais e destemidos.
Ainda que o objetivo esteja claro e o arsenal retórico tenha sido visto e revisto por ideologias precisas, na tensão que é explodir um discurso coletivo e de união, a fim de trazer para a liberdade cidadãos até então considerados ilegais, como fosse ilegal ser negro, resta na boca o permanente aviso (ora enunciado e outrora silencioso) – trata-se de uma MISSÃO!
Não é uma ideia e nem um ideal – é uma missão intransferível e radical, uma missão com nome próprio e auto-imposta através de um levante da consciência que de início é encabeçada por apenas um até, após desdobramentos, tornar-se coletiva.
Em cena vê-se uma constante revisão da História e a criação de “neomitos” bem alinhados com vozes de resistência de ontem e hoje. Disto surge o Haiti como referência ímpar para uma revolução recente e única. Os Racionais MC’s como um resgate de ordem cultural e à brasileira.
Também surge o slam e a música sagrada (tribal) como vozes transcendentais e atemporais que colocam o presente como instância sacra mediada pela ideia de libertação, ao menos verbal, intelectual e religiosa do sujeito negro contemporâneo.
Com isto está traçado o panorama que possibilitará criar um jogo de idas e vindas formais até encontrarmos Heiner Muller em uma batalha de MCs. O que de fato está posto é a realização de um objeto estético e cultural – por fim- um objeto NEGRO.
E o palco, tradicional catalisador de épocas e também tradicional sentença para o pescoço dos tiranos, em uma justa função para o teatro ocidental, apresenta uma militância que se pretende catártica e também combativa, embora épica.
Há nesta montagem uma dança que não pretende narrar ( apenas ser ) e uma dramaturgia que não deseja conduzir , ao contrário, no desenlace das cenas que sempre negam o sentido racional da narrativa passada pretende-se, através da fusão e da confusão, atravessar o condutor implicado (o ator) e abrir-alas para instrumentalizar a presença da platéia, que, supõem-se , conectada.
Com roteiro e direção de Orson Welles “O Processo”, filme inspirado no romance de Franz Kafka, durante a cena inicial do filme homônimo ao texto vemos um homem que acorda julgado e culpado.
O protagonista é acordado pela polícia que já o sentenciou. O protagonista desconhece seu crime e tampouco seus acusadores desejam revelar-lhe coisa alguma. E isto, no filme , produz uma absoluta noção da incomunicabilidade que há entre o que penso ser e aquilo que o outro, o de fora , deduz sobre quem sou.
A decisão do grupo por trabalhar a voz do oprimido segundo suas canções dançantes e em alguma medida sua ” festa “, produz efeito similar ao efeito que nos causa a cena acima descrita.
Pois, ser detido durante uma festa, durante o transcorrer pacífico de sua vida em sua terra natal ou durante o próprio sono (como no filme) é ser preso sem nunca ter imaginado a existência da prisão.
É viver sem jamais prever que há uma condenação inexplicável, enquanto você está distraído, viajando ao seu encontro.
Enquanto no filme o expectador agonicamente busca compreender qual seria esta perversa estrutura militar e “legal” que condena pessoas sem ao menos enunciar o crime ao culpado, assim aconteceu ao povo negro, outrora escravo e outrora livre sem maiores explicações. A cena produz perguntas que perseguem algum tipo de ordem racional por trás da sociedade escravocrata.
Por fim, numa tragédia humana implacável, tudo o que se pode encontrar para justificar o dano irreparável da escravidão, é um mal racional e premeditado. Por dentro da ideologia racista só existe o lucro que sonha acumular-se até criar uma sociedade perfeitamente tecnológica e segura para uma minoria de seres humanos escolhidos aleatoriamente pela cor da pele, por sua cultura e religião.
Na peça temos a chance de notar que o processo de escravização deu-se de ao contrário de um seqüestro contemporâneo onde as vítimas sabem a razão de terem sido violentamente retiradas de sua comunidade, o coletivo está pasmo, quase a um passo de acreditar que o passado nunca aconteceu.
A motivação escravagista pode variar hipocritamente através das décadas e esconder-se atrás de uma razão alegórica – a cor da pele.
E o direito à compreender porque o mundo voltou-se de forma inabalável contra sua liberdade nunca foi outorgado ao povo negro. É uma guerra não comunicada e ao mesmo tempo de longuíssima duração.
O interlocutor, tão desumanizado, não é convidado para participar de seu próprio contexto, pretende-se que a individualidade do negro seja um enfeite desimportante no processo racista.
A escravização da sociedade negra deu-se à base do “assim é que é” e do ”aceite”. E jamais encontraremos a cura sem assumirmos que a “democracia racial” é uma falácia voltava ao interesse do sujeito branco.
E hoje, ainda na conquista da representação na língua, das mídias, das formas e dos meios de produção, o povo negro deseja e luta para que esta equação se veja transformada – no século 21 não mais os negros descenderão de escravos. Agora serão os brancos quem descenderão de escravagistas. E isto fará toda a diferença.
Ao menos na literatura de resistência e nesta peça de teatro é possível imaginar que a nivelação das diferenças não é um ideal impossível. Não deixa de ser um teatro que, apesar de realista, carrega uma visão otimista ainda que sob a neblina de palavras de ordem e tom combativo.
Também não se trata de um teatro que pretende dar o parecer final acerca do tema, inclusive a forma montável das cenas pressupõe espaço (um vão de sentido) entre as peças do móbile.
Em um ato fundante o coletivo cria um teatro negro de contribuição, pois há investigação formal, ideológica, acadêmica e prática suficientes para traçarmos diversos eixos, portanto, com esta convergência , talvez ainda de forma descontroladamente poderosa, vemos o teatro tornar-se uma religião.
A palavra “religião” designa uma cartilha de rituais, costumes e ideias que tem em comum religar o ser humano a algo que este , em grupo ou só, pensa ou sente estar desconectado.
Isto pressupõe um passado espiritual ou físico onde o ser agora desconectado via-se mais completo do que vê-se hoje. Ou seja, quer religar-se, por necessidade de plenitude, à algo que o completará como ser humano e espiritual.
Então, teatro religioso porque religa seus fazedores e público ao ponto de partida sócio-histórico, e isto completa sim algumas lacunas na vida privada e pública.
Fica claro que ao falar desta temática há também um exorcismo público das inúmeras questões que tentam bloquear o contado do espírito negro contemporâneo com sua ancestralidade.
Este teatro religioso , ao invés de idealizar uma utopia como demandam as religiões tradicionais, busca realizar na Terra seu paraíso. É que a MISSÃO, acima elaborada, será perpétua, mas não eterna.
E , outra vez na contramão das religiões tradicionais, o real encontro com a falta e a transformação do vazio existencial está para além da morte , pois, acontece agora e ainda em vida.
Por fim, para esta MISSÃO, a única oração possível é a revolução
Marcio Tito acompanhou parte do processo de ensaio da obra na dinâmica “Acompanhamento de Processo”.